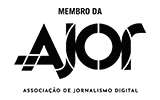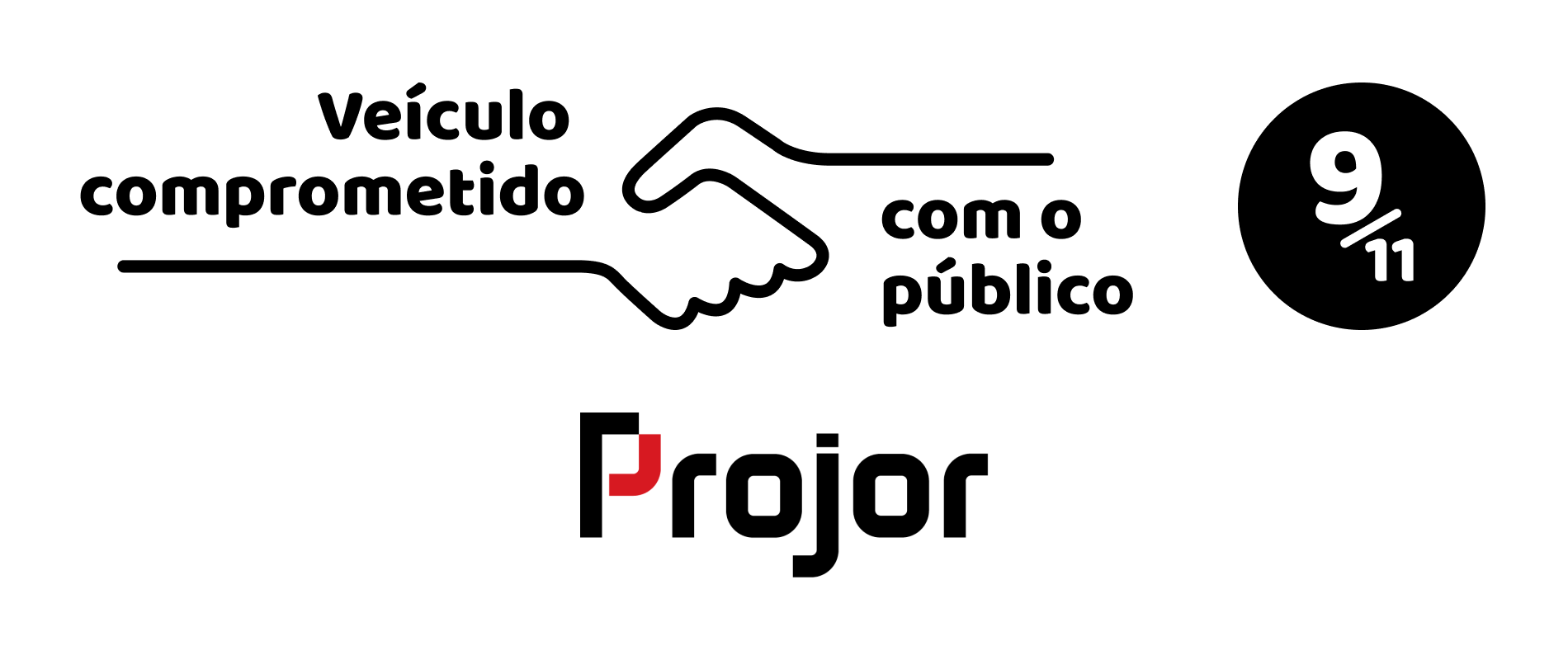O impacto da educação na vida de um jovem negro, gay e periférico
Neste artigo, o professor e designer do portal Porvir, Luan Silva, revisita sua trajetória pessoal e profissional, mostrando como sua persistência em permanecer na sala de aula continua transformando sua vida
por Luan Silva  19 de novembro de 2024
19 de novembro de 2024
Eu cresci na década de 1990 em um lar periférico e afrocentrado em Pernambuco, onde a educação sempre foi vista como a chave para a libertação e para o futuro. No entanto, desde muito cedo, o fato de ser homem, negro e gay me impôs papéis sociais rígidos e bastante difíceis, com uma infância permeada pela convivência com o racismo e a homofobia. Esses marcadores, com suas profundas implicações, impactaram diretamente minha formação escolar e minha personalidade.
Neste relato para o Porvir, onde atualmente trabalho como designer, desejo compartilhar como a educação — em especial a valorização do conhecimento e o acesso ao ensino de qualidade — foi uma demanda ancestral para mim e para minha família, ajudando-me a superar os desafios impostos pela sociedade. Este texto nasce justamente em um momento em que debatemos casos recentes de racismo, homofobia e mortes nas escolas, o que me faz refletir sobre a minha própria história e olhar de uma maneira afetuosa para os alunos que precisam enfrentar dificuldades semelhantes às quais passei.
➡️Baixe já o Jogo de Tabuleiro Antrracismo na Escola
Minha mãe e meu pai, cada um com sua trajetória marcada pela luta e pelo sacrifício, sempre deram um valor imenso à educação. Dona Selma, que se virava fazendo “bicos” como manicure e não teve a chance de estudar, sempre enfatizou a importância do aprendizado para os filhos. Ela nunca deixou de reconhecer a força que a escola poderia ter para transformar vidas, como uma verdadeira ferramenta de emancipação social.
Meu pai, seu Lindalvo, descendente de uma família de ex-escravizados no interior de Pernambuco, vivenciou um processo educacional tortuoso e demorado. Com o apoio de Dona Galega, professora branca que alfabetizou as crianças negras da região, ele se formou contador. Mesmo assim, enfrentou dificuldades para alcançar estabilidade profissional devido ao racismo estrutural.

O conceito de que “diploma é uma alforria”, como diz a música “Ismália”, de Emicida, era fundamental em minha casa. A educação era (e ainda é) vista como um passaporte para um futuro melhor, uma forma de superar as dificuldades impostas pela nossa posição social.
Meus pais fizeram grandes sacrifícios para me colocar em escolas privadas, acreditando que assim eu teria mais chances de prosperar, longe das limitações da educação pública e das influências da cultura da favela.
Entretanto, a realidade escolar não foi simples. Pelo contrário. A escola foi um campo de disputa e resistência para mim. Como o único menino negro em muitas de minhas turmas, sempre me vi lutando contra o racismo que permeava os espaços escolares e a sociedade em geral.
Na terceira série, um colega de classe perdeu o casaco. Mas, de todas as crianças da minha sala, a única família que recebeu um telefonema da coordenação perguntando sobre a blusa foi a minha, sem qualquer prova. O episódio, marcado por agressividade e desconfiança, me levou a mudar de escola no ano seguinte.
Na nova escola, após salvar uma colega de cair de um brinquedo, fui chamado de “super-macaco” por alunos e professores, um apelido que, na época, me deixou orgulhoso por ter sido notado por um ato heróico. Só mais tarde entendi o peso racista desse “elogio”, especialmente após a reação indignada do meu pai.
Os insultos racistas eram frequentes, e eu aprendi cedo a me adaptar para sobreviver. Tornar-me o “melhor aluno” foi uma estratégia para evitar o lugar estigmatizado do “negro problemático” que a sociedade tentava me impor. Apesar de todos os meus esforços para me “embranquecer” culturalmente e fugir dos estereótipos raciais, o racismo nunca me deixou em paz.
Ao mesmo tempo, também tive que lidar com a homofobia. O Brasil ficou profundamente marcado pelos “descréditos da década de 1980”, termo que se refere à discriminação generalizada enfrentada por grupos marginalizados. O estigma social se intensificou pela epidemia de AIDS, quando pessoas LGBTQIAPN+ foram injustamente associadas à doença. Qualquer pessoa abertamente gay era chamada de promíscua, entre outras coisas que a associavam à infecção.
Ser negro e gay era, para muitos, um atestado de inferioridade. Desde sempre, eu sabia que minha sexualidade era vista como um defeito, algo errado e vergonhoso. E o ambiente escolar não apenas não me protegeu dessas violências, como também contribuiu para a solidificação dessas limitações. Na escola, fui constantemente alvo de chacotas e bullying por ser “diferente”, o que me levou a uma profunda depressão na adolescência.

Por meio da educação, porém, encontrei formas de resistir e de me reinventar. Procurei nos livros e na cultura pop referências que me fizessem sentir menos sozinho. Figuras como Mussum e Vera Verão, embora caricatas e limitadas, foram as únicas representações positivas de pessoas negras e marginalizadas que encontrei. Ao mesmo tempo, desenvolvi uma relação ambígua com esses arquétipos, tentando encontrar uma forma de me expressar que fosse ao mesmo tempo aceitável e autêntica. Não era fácil ser um adolescente negro e gay sem referência de identidade.
Quem me dera ter, àquela época, o reconhecimento de tantos autoras e autores negros na literatura como tenho hoje. Figuras como Abdias Nascimento, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Lázaro Ramos e tantos outros teriam sido fontes de inspiração e uma ampliação nos limites que eu tinha ao sonhar com o futuro.
A ajuda psicológica também foi fundamental para lidar com a depressão que me acompanhou por anos e que, inclusive, me levou a tentativas de suicídio. Com o apoio de amigos e terapeutas, consegui reencontrar um propósito na vida.
Reforço aqui que a educação, tanto formal quanto autodidata, desempenhou um papel crucial nesse processo. Estudar se tornou uma forma de me reerguer, uma maneira de afirmar minha existência em um mundo que constantemente me dizia que eu não valia nada. A terapia e o apoio psicológico me ensinaram que minha identidade não deveria ser vista como uma fraqueza, mas como uma força que, ao ser ressignificada, me capacitava a lutar pelos meus direitos e por um futuro melhor.
Leia também
Falar sobre cabelo afro é fortalecer a educação antirracista
5 propostas de professores para uma educação antirracista
9 materiais gratuitos para criar uma aula antirracista
Hoje, sou designer gráfico e professor, e vejo a educação de uma forma muito mais ampla do que apenas o aprendizado acadêmico. Ela é uma ferramenta de transformação social, resistência e empoderamento. Não é demais destacar: a educação me proporcionou a oportunidade de sonhar e, mais importante ainda, de lutar pelos meus sonhos, mesmo quando a sociedade insistia em me dizer que eu não tinha lugar nela. Eu tenho. E eu sou.
Meu objetivo é contribuir para que outros jovens, como eu, possam ter as mesmas oportunidades de transformação que a educação me proporcionou. Que possam encontrar nas salas de aula um espaço não apenas de conhecimento, mas também de acolhimento, resistência e liberdade.
Embora o racismo e a homofobia ainda limitem minha liberdade, a educação me ajudou a entender que sou muito mais do que essas opressões. Conquistei vitórias pessoais e profissionais e continuo lutando por uma educação verdadeiramente inclusiva, que abrace todas as identidades e permita que jovens negros, gays e periféricos tenham o direito de viver plenamente. Por meio da educação, sigo avançando, me transformando. Hoje, me sinto aceito e respeitado pelo que sou.

Luan Silva
Designer Gráfico e de Experiência do Usuário (UX), é professor e trabalha como designer no Porvir. Pessoa preta e LGBTQIAPN+, impulsionador da inclusão e equidade em todos os espaços, tem graduação em Tecnologia do Design Gráfico e certificado como profissional de UX pelo Google.