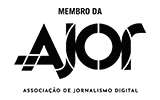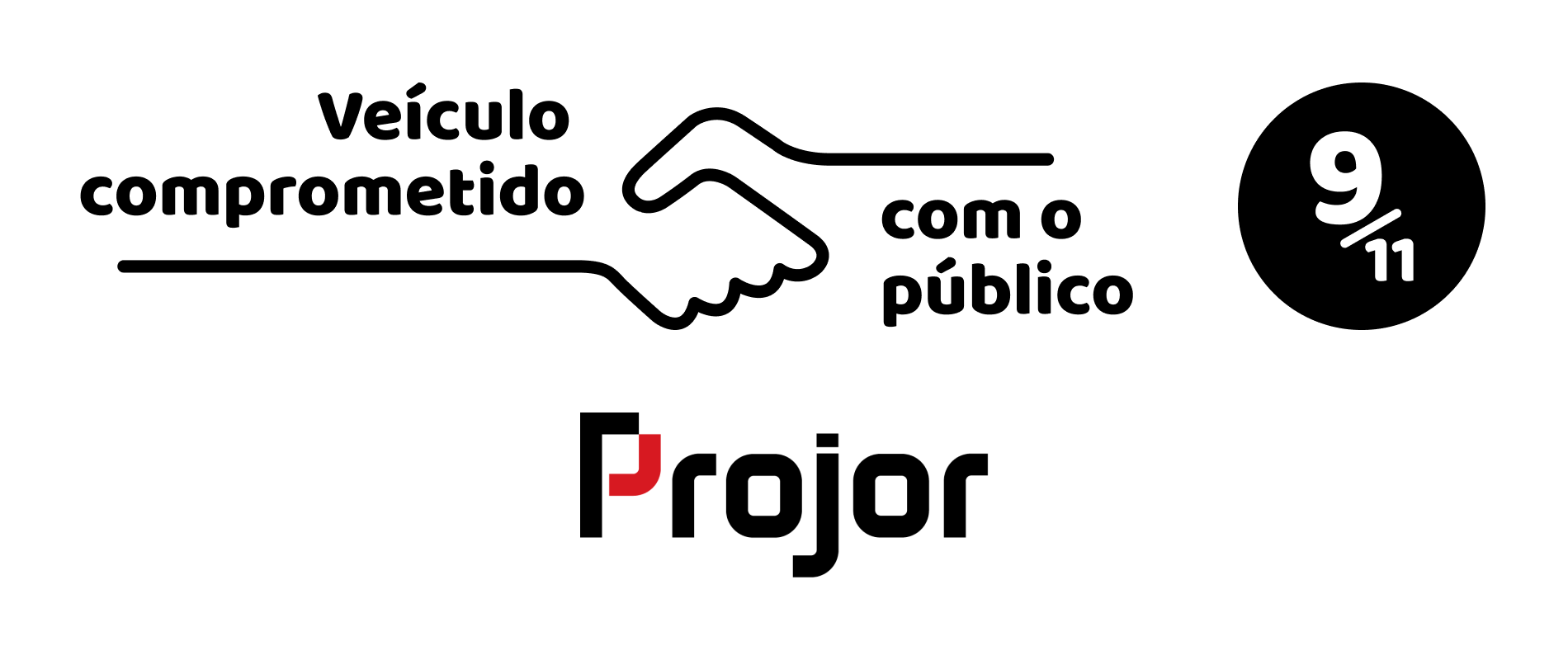‘As pedagogias progressistas são elemento de equidade’, diz professor brasileiro de Columbia
Para Blikstein, há um encatamento com a inovação e a escola pública não pode ficar de fora das novas propostas
por Marina Lopes / Vinícius de Oliveira  30 de maio de 2019
30 de maio de 2019
“Se os itinerários vão ser os mais simples, mais baratos e menos sofisticados, vamos perder a oportunidade trazer o interesse dos alunos para a escola.” Com essa afirmação, Paulo Blikstein, professor brasileiro da Universidade de Columbia, em Nova York (EUA), e pesquisador em novas tecnologias para a educação, ressalta o papel das pedagogias progressistas como um elemento importante para promover a equidade, já que uma escola com diferentes aulas, metodologias e espaços traz mais motivação para crianças, adolescentes e jovens.
Em entrevista ao Porvir, Blikstein falou sobre os desafios e perspectivas em torno da implementação da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e da elaboração de itinerários formativos do ensino médio. Para ele, os currículos elaborados a partir dos documentos nacionais não devem ser listas de conteúdos ou competências a serem desenvolvidas, mas matrizes que incluem exemplos de avaliação e de como as práticas e os conteúdos se encaixam.
Porvir – Como você tem acompanhado o debate da BNCC e da Reforma do Ensino Médio?
Paulo Blikstein – O debate na educação mudou tanto desde o fim do ano passado até agora que mesmo as críticas que eu fazia a diferentes políticas do governo, agora eu tenho saudade. Estamos em um terreno tão surreal que se conseguirmos implementar o que foi planejado pelo governo anterior eu acho que já está ótimo. O cenário é de completo despreparo e irresponsabilidade para gerir a educação. O momento é de união de todas as todas as pessoas que trabalham com a educação e ainda têm o mínimo de responsabilidade para tentar combater essas políticas absurdas.
Em relação aos currículos, eu até entendo que líderes de organizações, fundações e de secretarias têm um instinto de tentar negociar o que é melhor em um cenário ruim. Neste sentido, o ponto que ainda é válido e que me preocupa é que os países que implementaram padrões nacionais curriculares fizeram isso ao longo de quatro, cinco ou dez anos. Redes estaduais e municipais dizem que precisam fazer um novo currículo para 2020. Se não deu certo em países que têm muito mais infraestrutura e sistemas muito melhores, não vai dar certo no Brasil. Essas mudanças estão ligadas a um calendário eleitoral de quatro anos, que é irrealizável. A BNCC é uma novidade, e reescrever currículos nacionais e estaduais em seis meses não é realista pelo tipo de trabalho que isso dá. O que tenho visto em muitos lugares é um reembaralhamento dos tópicos, que não muda a essência desses currículos.
Porvir – E ainda tem a questão dos materiais didáticos…
Paulo Blikstein – A concepção de currículo clássica é uma lista de conteúdos para um determinado período de tempo, mas não é assim que as pessoas têm construído currículo hoje em dia, que é [entendido como] uma matriz de práticas e habilidades. Os documentos curriculares não são listas de coisas, eles são matrizes, com exemplos de avaliação e de como as práticas e os conteúdos se encaixam.
Como isso está sendo feito muito rápido, [as secretarias] dizem que o currículo contempla todas as habilidades o tempo todo. Vejo algumas apresentações de currículo dizendo que desenvolvem pensamento crítico, resolução de problemas, criatividade, habilidades socioemocionais, relacionamento interpessoal, solidariedade, empatia e outras coisas. Se o tempo de hora da aula for o mesmo do modelo tradicional, agora as 15 novas coisas precisam estar na mesa carga horária, não vai dar para fazer nada em profundidade. Resolução de problemas é uma habilidade que demora um tempo para você aprender. Em 45 minutos, não dá para fazer muita coisa.
A BNCC tem muitas habilidades, o que acho ótimo. Mas não basta escrever no currículo. É preciso pensar quantas horas leva para formar um professor para uma aula de ciências com resolução de problemas. Quanto custa isso multiplicado pelo número de professores da rede? Parece que é só uma questão de vontade, que basta ter o que se chama de maker mindset (mentalidade maker), mas não é só isso.
Porvir – Pensando na questão de infraestrutura e formação para os itinerários do ensino médio, como adequar o interesse dos alunos sem deixar de lado o que é essencial?
Paulo Blikstein – Eu tenho visto muitos itinerários que estão sendo publicados que são muito superficiais. Não é só dizer que 10 cursos estão disponíveis. De novo, é melhor fazer menos, mas fazer com qualidade. Eu já vi itinerário que no conteúdo de ciência da computação tem coisas como hipertexto, mas a gente não está mais nos anos 80. HTML é algo anos 90. Isso mostra que as pessoas estão criando coisas sem pesquisar.
A gente precisaria ter coalizões para fazer alguns poucos itinerários, porém bem feitos, para, em seguida, criar cursos com detalhamento sobre quais conhecimentos são realmente importantes. Se a decisão for por ensinar computação para o aluno do ensino médio, talvez precisemos de um centro de formação para professores de computação, o que não existe hoje. Pegar uma pessoa da escola que entende de computador e colocá-la para ensinar, não vai funcionar. Não podemos achar que tudo vai acontecer por milagre. Vai oferecer games e programação? Tem computador na escola? Tem professor para dar aula? Tem avaliações? Isso existe pelo mundo, mas precisamos de gente pesquisando e indo atrás desses currículos e avaliações.
É importante adequar a ambição à infraestrutura e ao trabalho demandado. A gente está em um momento de muito encantamento com mil inovações educacionais – socioemocionais, habilidades do século 21, movimento maker, aprendizagem criativa -, mas olhando muito pouco para como tudo acontece na escola. Como consequência, essas inovações acabam ocorrendo só na escola particular porque é quem tem mais recursos e flexibilidade. Na escola pública, o que vai acontecer com o ensino médio é que as pessoas vão dizer que não têm professor e nem infraestrutura e vão fazer online, que até pode ser feito bem, mas é igualmente caro e difícil. Minha preocupação é que o ensino médio continue com aulas normais de má qualidade e um monte de cursos online com apresentações de Power Point e narração, o que vai impactar principalmente os alunos de baixa renda.
Uma outra questão está relacionada ao itinerário profissional. A gente não está mais nos anos 70. Hoje as profissões estão mais sofisticas e as mais simples foram substituídas por computador. O itinerário técnico do ensino médio deveria ter computação, criação de games, coisas ligadas à invenção e à inteligência artificial. Mas vejo muito muita gente pensando nesses itinerários técnicos com coisas como serviços de hotelaria, auxiliar de contabilidade. Também tem uma questão de equidade, que é lamentável nesse governo, mas já estava presente no anterior, de falar que o pobre não precisa ir para a faculdade, que isso é uma perda de tempo. Não é papel do governo decidir pelas pessoas o que elas querem para a vida delas. O pobre e o rico têm que ter a opção de ir para a faculdade ou de fazer curso técnico.
A gente também não pode iludir o jovem como muitas faculdades fazem: “vem cursar graduação aqui e você vai ter mil empregos”, quando na verdade esses empregos não existem.
Porvir – Sobre a questão da equidade, em alguns eventos aqui no Brasil você já falou sobre sua preocupação de que a metodologia maker/mão na massa não fosse algo que ampliasse desigualdades, ao colocar atividades em uma aula extracurricular em que apenas alguns alunos estejam envolvidos e engajados. Com a questão dos itinerários, como redes conseguem tomar cuidado para não restringir tecnologia ou maker ao itinerário de ciências e não criar caminhos tão óbvios?
Paulo Blikstein – Eu acho que essa é uma questão muito importante. O que vai acontecer em muitos lugares é que algumas redes não vão oferecer todos os itinerários, porque vão falar que elas não têm dinheiro e não têm professor. Então, tem muito jovem que vai querer fazer um itinerário de ciências, engenharia ou até mesmo acadêmico, por exemplo, e a cidade não vai ter escola que vai oferecer.
A situação pode ser pior do que o que tem hoje, em que pelo menos todo mundo faz a mesma coisa, mas o aluno não é privado de uma escolha. Isso vai seguir as linhas de inequidades já existentes. São Paulo vai ter todos os itinerários, o Rio de Janeiro vai ter todos, mas o Piauí, não. Como fazer uma política para compensar inequidades existentes? Normalmente os estados mais pobres têm menos recursos. Eu acho que nessa questão dos itinerários também seria preciso intervir para compensar e balancear as inequidades existentes.
Além disso, tem a questão da motivação. Uma escola interessante, com aulas diferentes, com espaço maker, computação e todas essas coisas, apaixona mais o aluno, motiva mais o aluno. Se você está em um escola privada de elite, você pode até não gostar de algumas aulas, mas você vai gostar das aulas maker, do laboratório. Você vai encontrar suas paixões na escola. Agora se você está em uma escola chata que não tem nada disso, só tem aula e livro didático, o aluno vai pensar “essa escola não é pra mim”.
As pedagogias progressistas são elemento de equidade. Se a gente tivesse mais disso na escola pública, a gente conseguiria reter mais o aluno. Não é que ele vai se apaixonar por tudo, mas ele vai ter algumas experiências de sucesso.
Se os itinerários vão ser os mais simples, mais baratos e menos sofisticados, vamos perder a oportunidade trazer o interesse dos alunos para a escola. Tem muitos secretários falando: para escola pública precisa garantir o básico. Se a gente tiver dinheiro, coloca as outras coisas. Parece que faz sentido, mas não é isso que funciona na escola. Porque a educação tem a ver com motivação.
Em um momento como o nosso de país, em que o conservadorismo tem avançado na educação e também se ampliam os debates sobre militarização das escolas, voltamos atrás em discussões que pareciam que já estavam superadas. Como conseguimos manter a relevância do debate sobre inovação nesse cenário?
Eu acho que estamos vivendo algo muito surreal. Uma parte da estratégia, que é a mesma do [Donald] Trump, é de falar coisas tão absurdas, que fazem as pessoas ficarem preocupadas em reagir. Nem sabemos como contrapor essas ideias. Estamos acostumados em discordar, mas agora é uma coisa de outro mundo. O que você diz diante uma ministra que acha que a princesa Elsa, do Frozen, é lésbica. Não tem nem por onde começar!
As lideranças acadêmicas e educacionais, os reitores de universidades, fundações e mesmo a imprensa precisam continuar martelando nessas coisas. Por exemplo, a questão das universidades. Muitos acadêmicos começaram a postar os rankings das universidades, os nomes das pesquisas. Eu acho que as pessoas não têm ideia do que acontece nas universidades. Essas iniciativas de comunicar o que está sendo feito nas universidades e na academia em benefício do Brasil são muito importantes.
Felizmente no Brasil temos muitos dados sobre educação. É um sistema que coleta muitos dados, então devemos usá-los em favor da sanidade mental. Cadê o aumento do aprendizado? Cadê a proposta concreta?
Porvir – E pensando especificamente no que você falou de usar dados para argumentar, a gente percebe uma certa dificuldade de projetos educacionais brasileiros na hora de mensurar impacto da inovação. Em um momento como esse seria ainda mais relevante começar a mensurar impacto?
Paulo Blikstein – Eu acho que é mais relevante ainda. Cada projeto de inovação precisaria ter um doutorando avaliando impacto. As pessoas fazem um monte de projetos e, no fim, falam que vão contratar um consultor. Não é assim que funciona a avaliação de impacto. O Brasil tem pouca gente com formação para fazer isso. Até mesmo as escolas não têm a cultura de medir impacto de maneira sistemática. Medir impacto não quer dizer que aumentou a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O impacto pode ser na cultura da escola. Existem especialistas em pesquisa qualitativa que conseguem fazer uma análise rigorosa,de nível internacional, que pode ser publicada sobre a mudança de cultura na escola. Têm resultados que são mais qualitativos, mais sutis, e você precisa de gente para fazer isso. Na educação, você pode demorar dez anos para ver um resultado quantitativo.
Se as pessoas olhassem mais o impacto, elas iriam perceber que fazer 15 habilidades é uma coisa que não funciona. A medida para isso é: estamos fazendo socioemocionais, mas quantos minutos de aula foram dedicados a isso? E quanto tempo para a resolução de problemas? Quando você começa a olhar de maneira mais sistemática, vê que na semana foram dedicados três minutos para socioemocionais e com isso não será percebido nenhum impacto. A questão da pesquisa também está ligada a ser mais realista quanto aos objetivos. Queremos todos os impactos ao mesmo tempo, mas se você não mede, não percebe que na verdade não está atingindo.