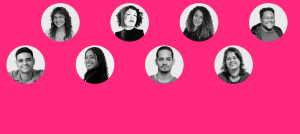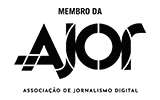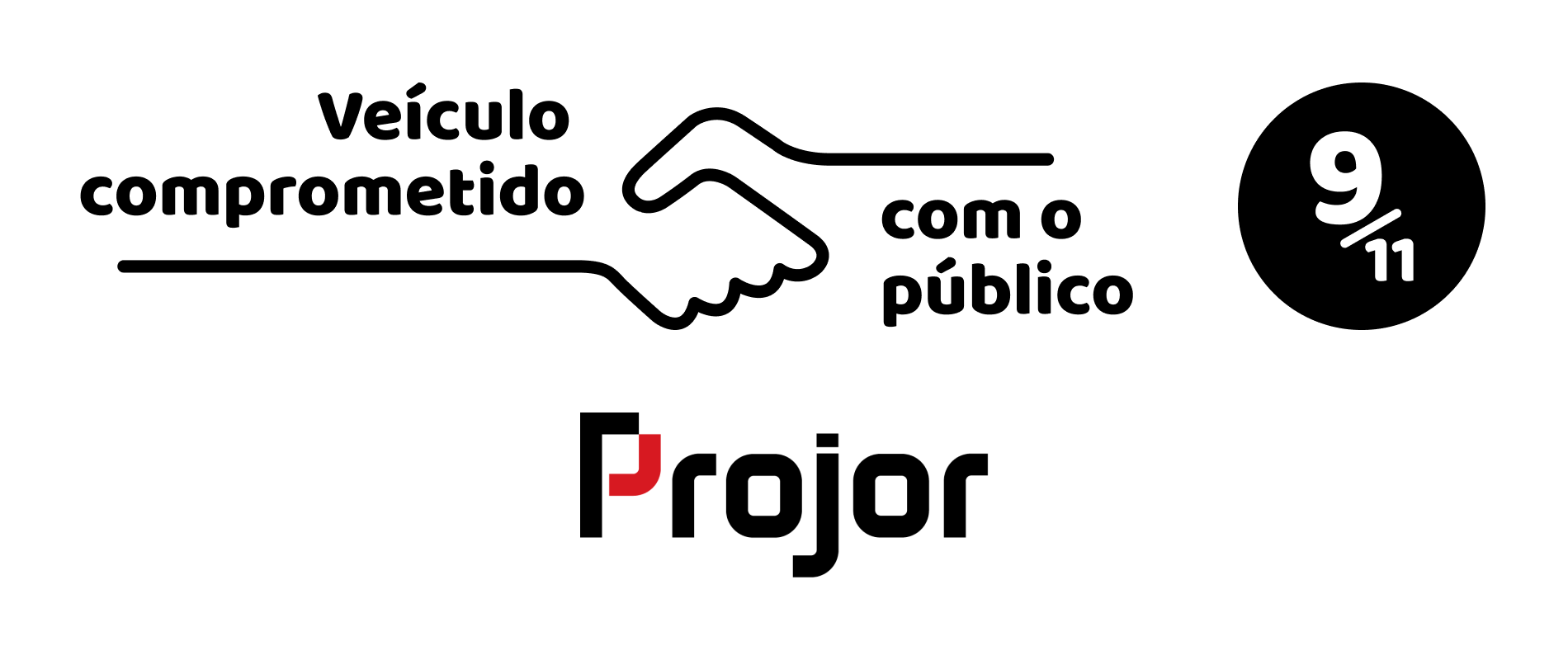Rio de Janeiro: os impactos da violência armada no cotidiano de quem educa
por Ana Luísa D'Maschio / Danilo Mekari  5 de novembro de 2025
5 de novembro de 2025
Na última terça-feira de outubro, apenas 30 estudantes apareceram em uma escola que tem aproximadamente 500 alunos no Rio de Janeiro (RJ). O professor Doug Alvoroçado estava organizando uma visita com a sua turma ao Congresso Mundial de Educação, que aconteceria no SESC Flamengo, e precisava das autorizações das famílias para realizar o passeio com tranquilidade. A diretora não tardou a ligar: devido à situação, seria preciso suspender a atividade.
O Colégio Estadual Heitor Lira fica na Penha, bairro carioca cujo conjunto de favelas – denominado complexo – foi alvo da megaoperação policial mais letal da história do Brasil.
➡️Relembre o editorial com o posicionamento do Porvir
No discurso oficial, a Operação Contenção buscava “neutralizar” o Comando Vermelho, e abarcou também o vizinho Complexo do Alemão. Na prática, a ação envolveu 2,5 mil agentes das forças de segurança do RJ para cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 mandados de prisão em uma área de nove milhões de metros quadrados. O resultado: 121 mortos, sendo quatro policiais. Ainda, 113 pessoas foram presas.
Para além desse rastro de sangue e de um trauma brutal para centenas de famílias e toda a comunidade a seu redor, a operação deixou como legado dias de caos para a capital fluminense. Mais de 200 linhas de ônibus foram suspensas, diversas ruas e avenidas foram interditadas, comércios e serviços foram fechados.

No campo da educação, o impacto também foi enorme. Segundo a Secretaria de Estado de Educação, 35 unidades da rede suspenderam as aulas durante a quarta-feira (29). Escolas particulares em diversas regiões da cidade pediram que os pais buscassem os filhos por conta da insegurança. Universidades e faculdades também suspenderam seus expedientes.
No âmbito municipal, a situação não foi diferente. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, após pararem por dois dias, as 25 escolas do Alemão e 17 da Penha voltaram a funcionar somente na quinta-feira (30). A SME-RJ também informou à reportagem que, durante todo o ano de 2025, essas unidades permaneceram fechadas por 11 e 10 dias, respectivamente, devido à ocorrências de violência nos territórios.
“Quando o Estado realiza um massacre – e é assim que deve ser chamado, uma chacina –, isso é sinal de fracasso do Estado e da sociedade”, afirma o professor Paulo Carrano, da Faculdade de Educação da UFF (Universidade Federal Fluminense), coordenador do Observatório Jovem do Rio de Janeiro e especialista em juventudes.
Em termos de números, a megaoperação é a mais letal da história do Brasil tem sido comparada ao Massacre do Carandiru, episódio que marcou a sociedade brasileira como prova de uma violência estrutural que impede o aprofundamento da democracia, explica Carrano. Para ele, o país vive hoje um quadro de normalização da barbárie. “O Estado, em vez de ser a cura, acaba legitimando a doença. E é nesse contexto que a escola está inserida.”
Essas incursões, observa o pesquisador, trazem consequências graves não apenas para o processo educacional, mas também para a saúde mental de crianças, jovens e professores.
“Diante de uma realidade como essa, o cotidiano escolar parece até secundário. Mas a escola é um equipamento público essencial de acolhimento. Ela não é uma ilha. Está justamente no meio dessa tensão entre o ideal de um espaço de proteção e o cenário brutal de uma sociedade atravessada pela violência.”
| Organizações de direitos humanos denunciam chacina e cobram investigação independente |
|---|
| Movimentos de direitos humanos classificam a megaoperação como “chacina” e questionam sua eficácia como política de segurança. O grande número de vítimas também foi criticado pelo Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU), que se disse “horrorizado” com a operação e pediu às autoridades brasileiras uma investigação “imediata, independente e minuciosa”. Uma carta pública assinada por 27 organizações denuncia uso ilegítimo da força pelo Estado na operação. O Observatório das Favelas afirma que o massacre deixou a população local “refém e insegura”. A OMCT (Organização Mundial contra a Tortura) reforça a necessidade de perícias independentes e rigor técnico para garantir uma investigação que responsabilize os envolvidos na chacina. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) condenou a ação. Já a Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ) criou um “observatório de investigações” para acompanhar a apuração sobre o cumprimento da lei pelas polícias civil e militar durante a operação. |
Portas fechadas
O impacto é concreto. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, o número de escolas que precisaram suspender as aulas por vários dias – por conta de tiroteios, toques de recolher e operações policiais – aumentou 245,6% entre 2021 e 2023.
Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado, Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da UFF apontou que, entre 2017 e 2022, mais de cinco mil escolas do Rio de Janeiro foram impactadas por tiroteios, resultando em até 36 dias de paralisação em algumas unidades.
O Rio de Janeiro e o Rio Grande do Norte estão entre os estados que mais convivem com a violência cotidiana em seus territórios, uma realidade que frequentemente obriga escolas a fecharem as portas por dias devido ao risco. Segundo o mesmo Anuário, 29% das unidades passaram por esse tipo de interrupção no Rio Grande do Norte, enquanto no Rio de Janeiro o índice chegou a 8,7%.
O estudo alerta: “Embora possamos atribuir o crescimento geral no percentual de interrupções do calendário escolar das escolas brasileiras às ameaças e episódios de violência extrema que instilaram pânico e induziram a adoção de medidas preventivas e emergenciais mais drásticas, é necessário sublinhar a centralidade e magnitude do impacto do crime organizado e das políticas para seu enfrentamento no cotidiano das escolas do país.”
De acordo com dados do Ministério Público do Rio de Janeiro, nos últimos oito anos, quase metade (45%) dos tiroteios registrados na região metropolitana do Rio de Janeiro ocorreram a menos de 300 metros de alguma escola.

Ensinar sob tensão
“Episódios como esse afetam a educação diretamente”, afirma Doug Alvoroçado, professor da rede estadual, consultor em inclusão, educação e tecnologia e embaixador do Porvir.
“Desde a abertura ou não das escolas até a frequência dos alunos — às vezes a família não quer que ele volte e está pensando em se mudar dali, e aí já fica um tempo a mais sem ir à escola. No dia a dia da sala de aula também há um impacto, pois é um momento no qual a gente não pode avaliar, não vai colocar uma matéria nova. Você tem que acolher aqueles estudantes, e então o planejamento pedagógico fica para depois, porque você também tem que tratar de outros assuntos com a turma.”
“Com que cabeça o meu aluno vai aprender a fórmula de Bhaskara ou o ‘verb to be’ se ele está preocupado, se não dormiu por causa do tiroteio, ouviu granada explodindo a noite toda?”, questiona Doug. “Como acolher um jovem que vive em uma favela violentada, que viu a polícia invadir seu território e matar seus vizinhos?”, complementa Paulo. “Antes de ensinar álgebra ou gramática, é preciso abrir espaço para ouvir.”
| Como a escola pode oferecer sentido de futuro a crianças e adolescentes em meio a uma sociedade marcada pela violência e pela desproteção? |
|---|
“Nesse contexto, a habilidade do educador em mediar conflitos é colocada à prova todos os dias”, diz Doug. “Tem aluno que diz que a polícia está certa e tem que entrar atirando, tem outro que acha que está errado, e você precisa mediar a situação na sala de aula para que não gere um conflito desnecessário”, explica. Mais do que ensinar, o desafio é escutar e cuidar das pessoas, como apontam especialistas em educação socioemocional e estudos de grandes organizações dedicadas à proteção de crianças e adolescentes, destacados nesta reportagem.Essa responsabilidade, porém, não pode recair apenas sobre professores e gestores. Garantir o direito de aprender exige o envolvimento de toda a sociedade – famílias, comunidades, redes de proteção e políticas públicas. “As escolas precisam se perguntar constantemente como está a autoestima desses estudantes”, afirma Paulo. “Elas precisam de políticas de suporte psicológico, de acolhimento e de segurança que não passem pela militarização. Precisam ser espaços de resistência afetiva e democrática em meio à barbárie.”Em meio à violência e à incerteza, fortalecer vínculos é sempre o primeiro passo. |
Leia também
O que a escola pode fazer quando a violência ameaça o direito de aprender
Acesse o Guia Escola Livre de Ódio
Chacina no Rio de Janeiro: qual o lugar da escola nessa tragédia?
Jovens negros, corpos executáveis
Em um cenário de constante violação de direitos fundamentais, a escola e os professores precisam estar preparados para receber os estudantes. É o que também recomenda Flávia Cândido, professora de língua portuguesa do Pré-Vestibular Comunitário Marielle Franco, uma iniciativa de educação popular para estudantes de baixa renda, localizada no Morro da Providência. “A gente sempre procura acolher e falar sobre a situação vivenciada por cada aluno naquele momento”, declara.
Moradora da Maré e mãe de três homens pretos, ela lecionava em um pré-vestibular na Vila Cruzeiro quando, em 2022, o local foi palco de uma operação que resultou em 23 mortes. “Convidamos o grupo Favela Terapia para fazer uma roda de conversa com aqueles adolescentes e adultos que sofreram essa situação e na maioria das vezes não tem nem tempo nem recurso para fazer terapia”, relembra.
“Em uma megaoperação como essa última, como fica a situação dos jovens que se enxergam naqueles corpos executáveis dentro do sistema racista e classista que a gente vive no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro?”, questiona a professora. “O Estado, ao agir dessa forma, transmite uma mensagem simbólica muito clara: o direito à vida e o direito à educação são secundários diante da lógica de guerra”, complementa Paulo.

Cenas de guerra
Paulo Carrano se lembra de uma ocasião em que representou a Secretaria de Educação e procurou a polícia para discutir possibilidades de proteger as escolas de tiroteios. “A sugestão de um oficial foi colocar sacos de areia nas janelas de vidro. Ou seja, era uma solução típica de zonas de guerra. Isso mostra o quanto naturalizamos o absurdo.”
Essa ausência de perspectiva, explica ele, enfraquece a crença na educação como caminho de transformação. “A principal mensagem simbólica que chega às crianças e aos jovens é que o futuro está suspenso. A pergunta ‘o que você quer ser quando crescer?’ dá lugar a ‘como você vai sobreviver até o fim do dia?’.”
Embora o Brasil não viva um conflito armado declarado, o número de mortes violentas no país é comparável (e, em alguns casos, superior) ao de zonas de guerra contemporâneas. Segundo dados do UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime) e do Institute for Economics & Peace, que publica o Global Peace Index, a taxa brasileira de 20,8 homicídios por 100 mil habitantes em 2024 supera a de países em conflito recente, como Ucrânia (17,4) e Síria (18,1), quando considerados apenas os civis mortos fora de ações militares diretas.
Abandono escolar
A violência e o abandono institucional não apenas ameaçam a segurança das comunidades, mas também aprofundam a descrença dos jovens na escola. De acordo com Carrano, muitos estudantes das periferias, mesmo quando perseveram nos estudos, percebem que o mercado de trabalho e a sociedade não cumprem a promessa de ascensão social.
Em 2024, 8,7 milhões de jovens de 14 a 29 anos não concluíram o ensino médio, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Entre as principais razões para o abandono está a necessidade de trabalhar, especialmente entre os homens.
“Muitos percebem que, mesmo estudando, não conseguem se inserir no mercado de trabalho ou alcançar o futuro que lhes foi prometido. Há um descompasso entre o que a escola oferece e o que a sociedade devolve. E, quando a promessa de futuro não se concretiza, a descrença se instala”, analisa.
O racismo estrutural agrava ainda mais esse quadro. Nas favelas brasileiras, a proporção de pessoas pretas e pardas (72,9%) é maior do que no resto do país. “Esses jovens enfrentam o preconceito e a baixa expectativa. Desde cedo, são vistos não como potenciais, mas como problemas. Percebem o olhar de desconfiança e o racismo que os cerca. E acabam se perguntando: ‘Por que me esforçar por uma instituição que não acredita em mim?’”, completa o pesquisador.
Caminhos possíveis
Para Flávia, investir em políticas públicas que realmente façam a diferença para a perspectiva de vida de um jovem negro e periférico é crucial. E como se faz isso?
Ela cita algumas possibilidades: “Com escolas próximas à residência desses alunos; com o programa Pé de Meia ainda mais robusto; com a Lei 10.639 funcionando, fortalecendo a educação antirracista dentro das escolas; trabalhando a autoestima desses jovens para que se vejam em conquistas novas.”
A educadora sabe, porém, que para isso acontecer é necessário uma mudança radical na forma com que o poder público é exercido atualmente. “O Estado não te dá condições para estudar próximo da sua casa, para fazer um ensino de qualidade, para ter um emprego decente, para ter acesso à cultura e ao lazer. Mas é um Estado que te mata.”
Começo, meio e começo
Um conceito do pensador e poeta Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, virou referência para ajudar Flavia a enfrentar os obstáculos da rotina como educadora: o “começo, meio e começo”, que reflete a ideia de circularidade e continuidade da vida e da ancestralidade. “É só nessa energia de troca, de aprendizado, de fé e de luta que seguimos com esperança dentro da sala de aula.”
Afinal, mesmo após traumas coletivos, é preciso encontrar formas de seguir em frente. “Falamos de educação antirracista, de letramento racial, de futuro…t emos que ir para ação, né? E continuar trabalhando, estudando. É uma continuação o tempo inteiro, a gente não pode parar, a gente precisa estar ali”, comenta.
“Ser professora de língua portuguesa dentro desse contexto, ensinando palavras e vocábulos, mostrando que esperança não é só uma palavra – é uma atitude de resistência. Isso tem sido meu norte, tem sido o que me preenche, e é muito maravilhoso e gratificante também.”
Por fim, Flavia reforça o apelo para que sejam elaboradas políticas públicas com a finalidade de evitar que jovens negros e periféricos virem corpos matáveis no futuro. “Para que esse corpo tenha esperança, sim, mas que seja a esperança de ser um médico, um advogado, um professor, um escritor, um artista, um ator, um cantor, com a sua dignidade humana preservada.”