Visibilidade Trans: professores se tornam referência no debate sobre igualdade de gênero
Conheça as trajetórias de Paula Beatriz, Sayonara Nogueira e Bernardo Gonzales, que encontram na diversidade e no acolhimento maneiras inovadoras para transformar o cenário de exclusão
por Ana Luísa D'Maschio / Beatriz Cavallin  29 de janeiro de 2024
29 de janeiro de 2024
Uma cena acaba de entrar para a história da televisão brasileira: no dia 19 de janeiro de 2024, os personagens Ramiro (interpretado por Amaury Lorenzo) e Kelvin (papel de Diego Martins), de “Terra e Paixão”, transmitida pela Rede Globo, protagonizaram o primeiro casamento gay das telenovelas brasileiras. A despeito do debate nacional sobre gênero lançado pela trama, que também engloba as pessoas LGBTQIAP+ (confira neste link o significado de cada letra), a letra T, da Comunidade Trans, ainda não tem uma representação forte na mídia nacional.
Um estudo de 2021 realizado pela Faculdade de Medicina de Botucatu, da UNESP (Universidade Estadual Paulista), mostrou que 2% da população brasileira é de pessoas que se identificam como trans ou não-binárias. Em números absolutos, são 3 milhões de pessoas. Mas a garantia de seus direitos passa longe de ser romanceada: o Brasil é o país com mais mortes de pessoas trans no mundo, informa o Dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transexuais Brasileiras, feito pela da Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais).
📳 Inscreva-se no canal do Porvir no WhatsApp para receber nossas novidades
Neste 29 de janeiro, Dia da Visibilidade Trans, é importante lembrar alguns dados que precisam ser mudados com urgência: dos alunos matriculados em universidades federais no Brasil em 2021, apenas 2,9 mil eram assumidamente trans, o que representa menos de 0,5% do total, aponta um levantamento do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Para esta reportagem, o Porvir ouviu histórias de quem enfrentou este cenário de exclusão e se tornou referência de igualdade de gênero nas escolas e espaços onde atuam. A seguir, você conhece a trajetória das educadoras Paula Beatriz de Souza Cruz e Sayonara Nogueira, e do professor Bernardo Gonzales.
Planos de aula para combater a transfobia
O que a matemática, a geografia e a arte podem ter a ver com a diversidade? Tratar do assunto de maneira transdisciplinar é o que sugere – e coloca em prática – a professora de geografia Sayonara Nogueira, primeira professora trans a ter nome social (leia mais no box ao final do texto) reconhecido em Minas Gerais. Ela criou o site Observatório Trans, que reúne pesquisas, legislação, e-books para download e planos de aula.

“Desde 2012 venho fazendo pesquisas no campo da sexualidade, na perspectiva da geografia, que é a minha formação. Mas a maioria dos estudos costuma falar sempre sobre mortes, assassinatos, a violência que cerca as pessoas LGBT. Nesse contexto, enquanto professora de educação básica, ouvia os colegas dizendo que tinham dificuldade em trabalhar a temática de maneira interdisciplinar. Daí surgiu a ideia do site, onde indico bibliografias e materiais de referência para professores e professoras”, explica.
Na matemática, por exemplo, o debate é possível a partir da consulta de dados relacionados às pessoas LGBTQIAP+ no Brasil e no mundo. Na geografia, o uso de mapas para destacar quais estados registram casos de LGBTfobia é um caminho para tratar do assunto. Nas artes, refletir como os gêneros masculino e feminino aparecem nas diferentes manifestações funciona como um ponto de partida para trabalhar a promoção da igualdade e da equidade de gênero. Todos esses planos de aula estão disponíveis no Observatório, na seção Educa Trans, e foram construídos por diferentes professores. “Faço esses estudos para que eu possa promover o mínimo de cidadania para essas pessoas na sala de aula”, afirma.
Para este ano letivo, Sayonara, que leciona na Escola Estadual Professor Ederlindo Lannes Bernardes, em Uberlândia (MG), colocará em prática com suas turmas um projeto sobre como enfrentar a violência de gênero, relacionado às mulheres trans, sem deixar a geografia de lado. “Em 2022, a Lei Maria da Penha foi estendida às mulheres transgênero, e deve ser aplicada em casos de violência doméstica ou familiar. Quero ouvir as opiniões e entender o que os alunos acham da legislação.”
Em 22 anos de docência, ela conta não ter um relato de violência em suas turmas. A despeito da perseguição que sofreu durante sua graduação em uma universidade federal por causa de sua transição de gênero, ela acredita que é preciso transformar o sofrimento em ferramenta para promover cidadania em sala de aula. “A dor que eu sofri teve de ser modificada. Não posso transformá-la em outra dor. A escola tem a potência de apoiar a informação, de ser um espaço de diálogo e segurança para que cada aluno possa se desenvolver de forma plena e crítica, no seu tempo.”
Posicionamento em sala de aula

Aos 32 anos, Bernardo Gonzales traz uma trajetória marcada pelo futebol, pela comunicação e também pela educação. Foi durante o curso de ciências da natureza na USP (Universidade de São Paulo) que passou a se envolver com coletivos de militância e viu no ativismo a forma como queria se posicionar perante a sociedade. Atualmente, o professor de ciências naturais se identifica como uma pessoa transmasculina e reforça a importância do termo.
“Apesar de vocês enxergarem em mim esse estereótipo masculino, para mim o que vem primeiro é sempre esse corpo atravessado pela masculinidade. Enquanto pessoas trans, nós precisamos vestir essa binaridade. Acho que, com o tempo, vamos começar a discutir o fato de que nós não estamos dentro desse espectro, na verdade ele remonta a lugares que não fazem parte de quem somos.”
Durante o período escolar, Bernardo não encontrou na escola – e nem na sociedade – o apoio de que precisava para se sentir parte da comunidade LGBTQIAP+. Sua adolescência e início da idade adulta foram épocas marcadas não apenas pela indiferença, mas também pela aversão e pelo ódio. “A escola ainda é atravessada por esse conservadorismo: ele está entre nós, está em todos os lugares. Mas por que ele não costuma aparecer em crianças e adolescentes? Porque esse é um espaço onde eles estão muito mais abertos, estão aprendendo.”
Neste sentido, o educador defende que as escolas precisam estar preparadas para lidar com a temática. Uma pesquisa realizada em 2016 pelo defensor público João Paulo Carvalho Dias, presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), estimava que no Brasil 82% das pessoas trans e travestis tenham abandonado os estudos ainda na educação básica. “A gente sabe que a evasão escolar de pessoas trans é grotesca porque estamos morrendo antes disso, as nossas identidades estão sendo esmagadas. A escola deveria ter um papel fundamental nesse processo, de entender que estamos em todos os lugares, em todos os tempos históricos”, reforça Bernardo.
Relacionadas
Incluir o debate sobre gênero na escola é acolher estudantes LGBTQIAP+
LGBTQIAP+: Confira livros, filmes e planos de aula para o debate na escola
Ao ignorar diferenças, escola exclui estudantes trans
Muitas vezes a própria gestão escolar está mal informada sobre os direitos de jovens trans na escola, o que dificulta a atuação dos professores em sala de aula. Caso exista esse entrave, a recomendação de Bernardo, que também é colunista do Mídia Ninja, é que educadores se apoiem no currículo e encontrem brechas para falar sobre sexualidade e diversidade.
“O amparo nas legislações e nos documentos oficiais é potente, é essencial para que a gente consiga fazer um bom trabalho”, diz. “As crianças também exigem sobre isso na realidade, a gente tem de falar, né? Nas aulas de biologia, nas aulas de filosofia, nas aulas de português. Independentemente de qual seja a disciplina, a gente tem que falar sobre essas questões.”
Apesar do apelo, estar no chão da escola traz outras dificuldades, que são ainda mais evidentes para professores trans. Se por um lado a representatividade é importante para que crianças e jovens se enxerguem no ambiente escolar e encontrem conforto, por outro ainda existe um estigma muito grande ao lidar com professores que fogem da cisnormatividade. “Qualquer coisa que a gente fizer dentro da escola é visto como algo problemático, os pais das crianças vão dizer que você está estimulando os filhos deles a se tornarem trans, como se isso fosse possível. É uma faca de dois gumes, mas é um espaço no qual a gente precisa estar.”
Quando questionado sobre o que professores trans devem fazer para não desistir do caminho da educação, Bernardo diz que não enxerga a desistência como algo ruim e reforça que muitas vezes ela é necessária para a sobrevivência. “É um sistema muito perverso e precisamos ter ciência dessa perversão. Se você está ciente e ainda quiser seguir, eu acho que o caminho é você ter paciência e fazer um trabalho com amor.”
Para Bernardo, é necessário amar o mundo o suficiente para entender que: ou a gente faz esse trabalho ou então ele vai continuar da mesma forma. “A chave é ter amor, dedicação, saber reconhecer suas falhas e aprender nessa jornada a se conectar com as pessoas, principalmente as que estão fora da sua bolha.”
Educar para transformar

Primeira diretora trans da rede estadual de São Paulo, Paula Beatriz de Souza Cruz se tornou referência pela sua atuação na educação. De vencedora do Prêmio Darcy Ribeiro de Educação ao dia a dia retratado no documentário “Meu corpo é político” (disponível gratuitamente no GloboPlay), Paula ganhou nome de uma rua na comunidade do Capão Redondo, bairro de São Paulo onde fica a Escola Estadual Santa Rosa de Lima, dirigida por ela desde 2013.
“Essas homenagens não só fortalecem a mim, mas também fortalecem a luta da população LGBTQIAP+. Isso vai fazendo com que as pessoas compreendam nossas lutas. É uma maneira de educar. Veja só a recente novela com o primeiro casamento gay, ressaltando o afeto e o amor, sem sarrismo: é um jeito de fazer com que todos percebam o quanto é fundamental as pessoas amarem umas às outras”, comenta.
O debate sobre gênero precisa estar no projeto político-pedagógico das escolas desde a primeira infância, acredita Paula, que reforça: essa discussão não se restringe às questões LGBT. “Falamos sobre as mulheres, sobre os homens, como essas crianças vão ser educadas, porque elas reproduzem discursos que nem sabem o que significam. A temática está presente o tempo todo no nosso dia a dia.”
E os educadores não devem ter receio de fazer essa abordagem. “Temos as competências previstas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular) para o debate sobre orientação sexual, contamos com um amparo legal da legislação. Precisamos nos fortalecer com os pais que acreditam no debate para garanti-lo. A lei serve também para educar. É por meio da inclusão que essa criança e esse jovem se desenvolvem como cidadãos”, complementa.
União família-escola
Durante sua participação no webinário “Questão de gênero é questão da escola”, realizado pelo Porvir em junho de 2023, ela comentou: “Pense na dor emocional e no sofrimento diário de ser quem você é, como se a gente não pertencesse ou existisse uma anormalidade, com uma sociedade condenando, atacando, com piadas chulas. Precisamos repensar esse processo e ele tem de começar na educação infantil, para que o debate possa se fortalecer”, destaca Paula. “As famílias devem compreender que não se trata de uma doença, uma aberração, algo pecaminoso. Precisam estar próximas de suas crianças e de seus jovens para que eles possam ter um ambiente feliz e sucesso nas suas trajetórias.”
A escola, portanto, precisa ir além do pensamento sobre o aspecto cognitivo de seus estudantes para que possa avançar. Olhar para as habilidades socioemocionais para acolher alunos e professores da comunidade LGBTQIAP+ é fundamental, ressalta a diretora. “Quando uma pessoa não está bem emocionalmente, se suas habilidades socioemocionais não estão sendo respeitadas, acolhidas, ela não produz”, diz Paula. “Por ser um espaço que reúne a diversidade, a escola precisa propiciar um acolhimento da identidade de gênero e da orientação sexual, em conjunto com a família”, recomenda.
Foi o que aconteceu em sua infância: sua mãe teve papel fundamental para que Paula não desistisse da escola. “Ela não se opôs a minha identidade ou teve qualquer preconceito. Mas ela teve medo de me perder, lembrando que o Brasil é o país que mais mata travestis”, relembra. Isso justifica a postura conservadora de muitas famílias, no sentido da proteção, porque sabem o quanto uma pessoa travesti e transexual vai sofrer. “Por isso, precisamos de um conjunto formado pelo jovem, pela família e pela escola, para que a gente possa de fato trilhar possíveis caminhos. Cada caso é um caso, cada observação, cada situação também. Não há uma receita pronta, mas há uma palavra fundamental para todo esse processo: respeito.”
Respeito como base
Para a diretora, uma escola que não se preocupa com uma criança que falta, que apresenta marcas no corpo ou que sofre bullying por seus trejeitos afeminados está cometendo crimes. “A escola precisa garantir a segurança emocional do seu estudante, não pode permitir que as violências físicas ou verbais afetem o emocional de quem está sofrendo dentro do espaço escolar”, ressalta. Transfobia e LGBTfobia são crimes e devem ser denunciados pelos meios legais, afirma Paula. “Não se corrige violência com outra violência.”
Com mais de três décadas de carreira, Paula aposta na revolução da educação, e aconselha quem já pensou em desistir da sala de aula por preconceito ou discriminação. “Estou há 35 anos fazendo essa caminhada. Tanto as pessoas trans quanto as cisgêneras vão ter seus perrengues, mas estamos construindo o saber junto com as crianças e com os jovens. Não desistam”, recomenda. “Precisamos mudar essa história que foi negada para muitas transexuais, muitas travestis, muitos homens trans de permanecerem no ambiente escolar, nesse processo de exclusão. Os nossos corpos presentes dão a garantia do direito à educação e à identidade de gênero. Precisamos acreditar no que somos, no nosso potencial, reverter esse histórico. A educação precisa de nós, transexuais, neste espaço escolar.”
| Direito ao uso do nome social na educação básica |
|---|
| O nome social é aquele pelo qual as travestis, mulheres trans ou homens trans optam por ser chamados, de acordo com sua identidade de gênero. Desde 2018, o MEC (Ministério da Educação) autorizou oficialmente seu uso na educação básica. No ano passado, o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queers e Intersexos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, publicou no Diário Oficial as diretrizes para que escolas e universidades públicas e particulares adotem a normativa. Em seu site, a professora Sayonara Nogueira, que também é presidente do Instituto Brasileiro Trans de Educação, secretária de comunicação da Rede Trans Brasil e integrante do trans da Rede Ibero-Americana de Educação LGBTI, costuma receber denúncias de estudantes que ainda não conseguiram que a escola aceite seu nome social, bem como pedidos de gestores com orientações para adotar a medida. “A Portaria 33 do Conselho Nacional de Educação é bem clara em relação ao uso do nome social: se o estudante for maior de 18 anos, ele mesmo pode solicitar. Caso a escola se negue a adotar, eu oriento fazer a denúncia na ouvidoria de educação do estado ou do município, e os casos são atendidos de imediato”, explica Sayonara. “Caso não seja atendido imediatamente, oriento até fazer um boletim de ocorrência junto à polícia militar ou civil. O estudante menor de 18 anos só consegue fazer isso com autorização dos responsáveis. Caso a família não aceite, minha orientação é que a escola faça um trabalho de sensibilização sobre a temática, convidados família e comunidade escolar para participar e mostrar a importância do uso do nome social ou até mesmo encaminhar para a área da psicologia.” |









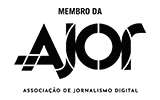
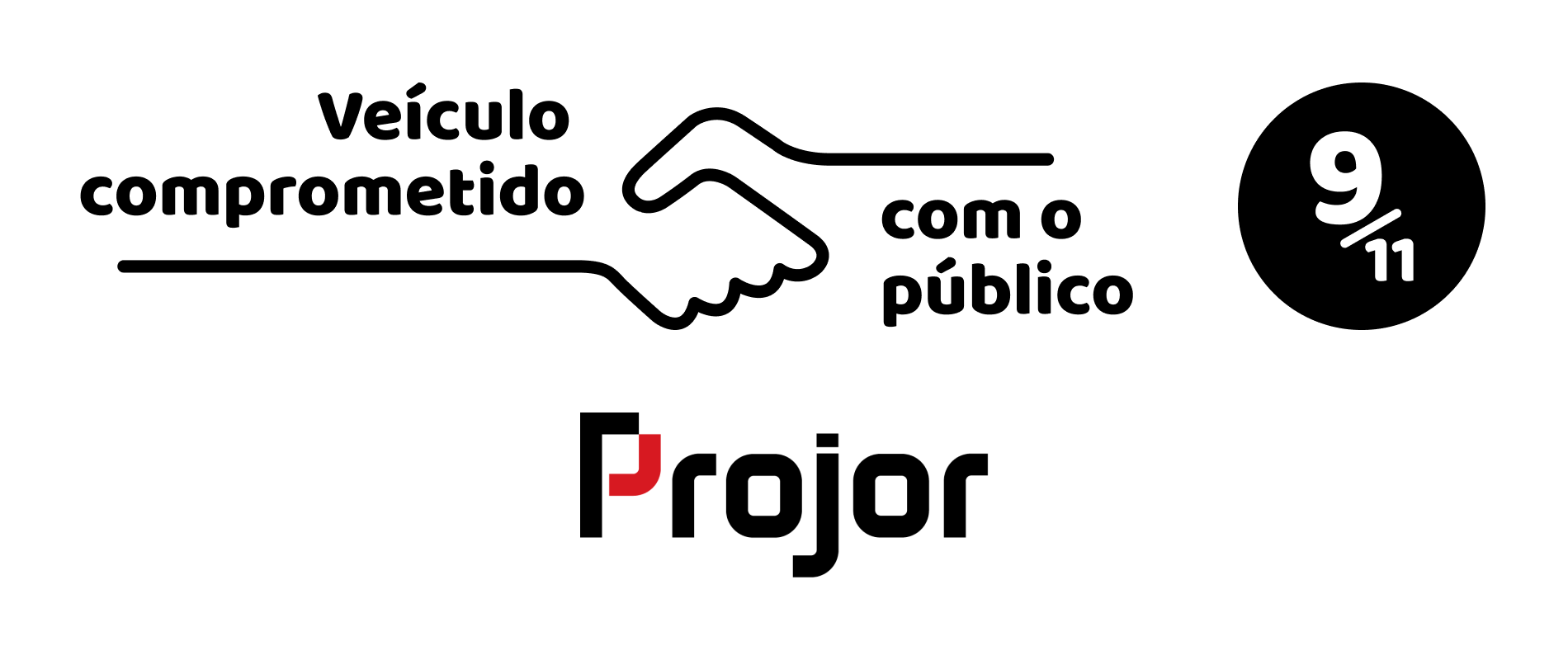
Fantástico que começamos, mas ainda estamos no começo desta longa jornada.