‘Em 5 ou 10 anos, toda sala de aula será um fablab’
Paulo Blikstein, professor de Stanford e criador do Fablab@School, acredita que laboratórios têm tudo para se tornarem comuns
por Patrícia Gomes  19 de novembro de 2013
19 de novembro de 2013
Quem acompanha revistas de inovação já deve ter percebido. O Movimento Maker, ou o Movimento do Faça Você Mesmo, está em todos os lugares: em universidades, entre empreendedores e até em escolas. O fablab é um espaço de experimentação que permitem aos usuários criar seus protótipos de um jeito rápido e barato, o que muda não só os processos de produção, mas traz também novas e ricas oportunidades de aprendizado.
Paulo Blikstein, professor de Stanford e criador do projeto Fablab@School, implanta laboratórios de fabricação digital, equipados com impressoras 3D, cortadoras a laser e dispositivos de robótica, e avalia o impacto que esses espaços promovem na educação. Em entrevista ao Porvir, ele lembra como foi o início do movimento e diz acreditar que esses espaços tendem a ser cada vez mais comuns. Confira, a seguir, os destaques da entrevista.
Como começaram os fablabs e o Maker Movement?
O fablab muito antes do Maker Movement, em 1999, 2000, com um professor do MIT chamado Neil Gershenfeld. Foi no tempo que eu estava no MIT. Tive aula com ele e vi esse movimento nascendo. Muito antes do Maker Movement teve esse movimento dos fablabs. Mas muito antes dos fablabs, o que realmente começou tudo isso foi, no Media Lab, o trabalho do Seymour Papert e do Mitch Resnick. Eles inventaram as primeiras plataformas de robótica educativa, que depois viraram o Lego Mindstorm. Foi lá realmente que esse movimento começou na educação, em 1996, 97, 98.
Depois teve o momento do fablab nos anos 2000. Mas, nessa época, eles não eram ligados com crianças. Eles eram para universidades, empreendedores. A ideia era criar laboratórios de invenção mais destinados a adultos, alunos de engenharia. Daí, em 2005, foi criada uma revista chamada Make e logo em 2006 um evento chamado Maker Faire, uma feira de ciências que começou aqui na Califórnia para a qual vinham crianças e adultos do país todo mostrar projetos de ciência, de engenharia, umas invenções malucas. Essa Maker Faire começou a crescer muito e a revista também. Daí o nome do movimento, que ganhou uma força nova com essa revista e com a feira.
A terceira parte disso é um projeto que eu comecei em 2008, que se chama Fablab@school, que foi o primeiro projeto que levou os fablabs para dentro da escola. Fizemos um em Moscou, depois nos EUA, depois na Tailândia e agora estamos fazendo no México e na Dinamarca.
Que tipo de equipamento é preciso para abrir um fablab?
Temos que ver as condições particulares de cada escola. Nem todas têm dinheiro para comprar tudo. Normalmente o fablab tem uma cortadora a laser, uma impressora 3D e equipamentos de robótica. É o mínimo. Mas muitas vezes as escolas não podem comprar tudo de uma vez, então recomendamos várias etapas.
O fablab é viável em grande escala?
Totalmente. Anos atrás, tinha gente que perguntava: “é viável as escolas terem laboratório de informática?”. Diziam que não era, que era muito caro, perguntavam o que as escolas iam fazer um laboratório de informática. Hoje em dia, todas as escolas públicas ou privadas têm um laboratório de informática. Essa ideia de que é uma coisa muito cara é relativo. Uma impressora 3D hoje custa US$ 1.500, que é o preço de um laptop. Algumas cortadoras a laser custam US$ 5.000, que é o preço de dois ou três computadores. Do ponto de vista econômico, é totalmente viável. A parte difícil é treinar as pessoas para usar esses laboratórios, que não são proibitivamente caros.
Em escolas públicas, onde é mais difícil despertar o interesse da criança, o fato de você ter oportunidades assim, com robótica, provoca um impacto muito maior [na aprendizagem dos alunos] do que nas escolas de elite. Foi o que observamos fazendo oficinas durante anos em escolas do mundo todo – Brasil, México, Costa Rica. O que a criança precisa é uma porta de entrada alternativa àquela que é oferecida normalmente pela escola, que é sentar numa sala de aula e ficar ouvindo o professor. Se você oferece isso, dando a oportunidade de criar projetos, robôs e dispositivos, você traz a criança para a escola. Depois ela até vai assistir aula de um jeito diferente. Mas ela já está dentro, já está interessada em ficar na escola, já está interessada em fazer o projeto dela melhor, ela vê um sentido naquilo.
Vimos isso, por exemplo, na periferia de São Paulo quando fizemos dois ou três anos de oficina nos lugares mais distantes. Fizemos também em Manaus, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso. Para a criança que não se interessava pela escola, que era tida como criança-problema, que nunca aprendia nada, quando lhe era dada a oportunidade de fazer uma coisa diferente e valorizada pela escola, essa experiência era revolucionária em sua vida.
Para crianças de escola pública, a única chance de acesso a esse tipo de espaço é ele estar dentro da escola. Por isso que, quando eu comecei o projeto, em 2008, as pessoas me perguntavam por que ele não poderia estar dentro da universidade para as crianças irem lá uma vez por mês ou passar o sábado. Eu dizia que não, que isso tinha que ser parte do dia a dia dos alunos, como uma biblioteca, para ter um impacto real.
O Gary Stager, um dos maiores especialistas e defensores da programação, da robótica e do aprender fazendo em salas de aula vai até mais além. Ele diz que o fablab tem que estar na mochila do aluno e o espaço de criação tem que ser toda a sala de aula. Isso é só uma provocação ou dá para ser assim?
Dá sim, no sentido de que você não precisa ter o fablab separado da sala de aula. Toda sala de aula pode ter equipamentos e isso pode estar integrado em todas as aulas. Você pode imaginar que, daqui a dois ou três anos, talvez você compre uma impressora 3D e uma cortadora a laser com o preço de comprar dois ou três computadores. Daqui a cinco, dez anos, toda sala de aula pode ser um fablab. Então você dá a aula de ciências metade na lousa e metade é hands-on. Você faz coisas com esses equipamentos na aula de química, na aula de história.
Além disso, muitos desses equipamentos estão se miniaturizando. Você tem uma caneta que escreve em 3D, impressoras 3D muito pequenas, um monte de coisa de robótica que cabe numa mochila. Mesmo quando trabalhamos nas escolas, fazemos projetos de a criança criar seu próprio microscópio. Ela faz na impressora 3D e carrega o microscópio na mochila. Onde ela vai, ela pode ver o que está acontecendo no mundo microscópico. Uma das razões do fracasso do laboratório de informática nas escolas é que ele virou uma coisa que as turmas iam uma vez por semana passar 45 minutos, mas isso não tinha nenhum efeito. Precisava de mais tempo e intensidade. Então o jeito é ter laboratórios e, com o tempo, começar a trazer isso para a sala de aula e para a mochila do aluno.
Quando a gente criou aquela placa de robótica, a GogoBoard, uma das ideias era que a criança fosse ao laboratório, começasse o projeto lá e fosse para casa terminar. Como a placa era muito barata, não precisava trancar no armário da escola.
Você tem a impressão de que esse ambiente de invenção está sendo valorizado? Ou é uma militância para que as pessoas entendam que é importante?
Está aumentando. Mas aí tem dois pontos. Primeiro, existem coisas que têm um boom e as pessoas acabam se decepcionando. Isso acontece porque não se faz pesquisa para mostrar os resultados. Muitas vezes, aparecem coisas novas na educação, como os tablets, fablabs ou o que seja. As pessoas ficam muito excitadas, montam laboratórios, compram um monte de tablets e ninguém se lembra de avaliar se ele realmente está funcionando em sala de aula. O que acontece é que, dois ou três anos depois, vem um repórter na escola e pergunta o que aconteceu com os tablets. O diretor abre uma sala, está tudo empoeirado, não tem nenhum estudo falando que o negócio funcionou, metade está quebrada. Aí sai no jornal que os tablets não funcionam, ou que os fablabs não funcionam. Daí nenhum político vai colocar mais dinheiro naquilo.
Todo movimento de inovação em educação tem uma fase de lua de mel, que todo mundo quer fazer. É exatamente aí que está o Maker Movement. Todo mundo quer fazer um fablab. Mas isso pode também desaparecer daqui a dois anos, se a gente não mostrar os resultados. Por isso, meu foco como pesquisador é mostrar os resultados disso.
[No Fablearn de 2013] a Leah Buechley contou que olhou todas as capas de revistas da Make e 90% delas eram meninos, crianças do sexo masculino, brancas, loiras e só 10% eram meninas. Não tinha nenhum negro, latino, nenhuma minoria. Ela fez uma análise e viu que o Maker Movement é uma coisa extremamente antidemocrática nesse sentido, se você olhar quem participa dele no momento nos EUA. O keynote dela foi uma chamada para as pessoas prestarem atenção nisso.
E como mudar isso?
Temos que valorizar outro tipo de making. A Leah mostrou que making não é só fazer robô e carro. Isso é um tipo de making, mas existem outros. Ela apresentou peças de cerâmica de comunidades indígenas dos EUA que são super sofisticadas tecnicamente para fabricar e que estão totalmente ausentes do Movimento Maker. Ela mostrou uma fantasia de carnaval incrível de Trinidad e Tobago. Essas peças são obras de engenharia incríveis. Elas pesam 200kg, 300 kg, têm dez metros de altura e uma pessoa carrega sozinha. Isso não deveria estar fora do movimento.









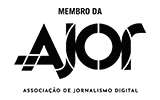
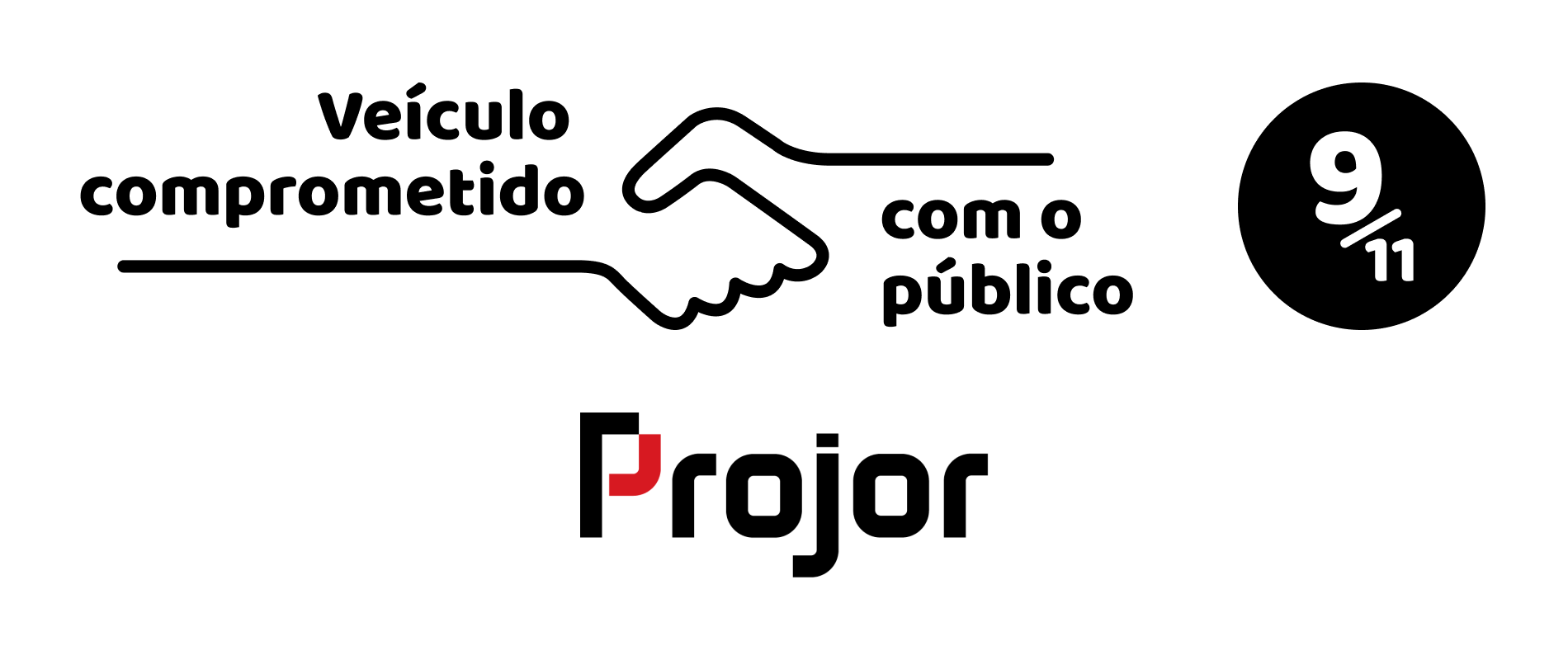
Maravilhoso!
Sensacional. Acredito que a oportunidade faz toda a diferença!
Bom dia !
Trabalho com educação emocional, defendi tese de doutorado em psicopedagogia no sentido de demonstrar a grande transformação no modelo de ensino com o advento das novas tecnologias e a essencialização da educação.
Basicamente, a idéia é que, se imaginarmos uma linha trajetória da educação veremos que até aqui era totalmente voltada à formação técnica, na busca de preparar profissionais que trabalhem em prol da civilização.
Na atualidade, o modelo apenas de transferência de conteúdos já não cabe mais, os conteúdos se encontram disponíveis em qualquer dispositivo móvel.
Assim sendo, a tecnologia nos proporciona a oportunidade de trabalharmos a essência do SER HUMANO em seu funcionamento psicobiológico, nossas emoções, a dinâmica estratégica natural que comanda em primeira instância nosso modo de perceber, pensar e sentir o mundo que nos rodeia.
Infelizmente não é o que vem acontecendo.
Mais uma vez estamos apenas pensando em formar o indivíduo para a sociedade e não abordando seu auto-conhecimento.
Gostaria muito de expor minhas ideias e tenho certeza que, com vossa ajuda poderemos implementar também a educação emocional desde a pré-escola.
Abaixo assinado.
Desde 2012 tenho buscado falar sobre o assunto, porém, não tenho conseguido muito, sou um pesquisador/cientista e não tenho redes sociais.
Abri um manifesto em prol da implementação da Educação Emocional. e o abaixo assinado está no link:
http://www.peticaopublica.com.br/search.aspx?q=alfabetiza%C3%A7%C3%A3o%20emocional
Não sei se há algo mais essencial na vida de um indivíduo do que seus sentimentos e como lida com eles.
Por favor me ajudem
Forte abraço a todos por aí, que DEUS continue abençoando o coração de voces.
att,
Paulo Roberto