Chacina no Rio de Janeiro: qual o lugar da escola nessa tragédia?
Diante de mais uma tragédia marcada pelo racismo estrutural, a escola é chamada a ser território de escuta, elaboração e resistência
por Rafael Silva  29 de outubro de 2025
29 de outubro de 2025
Além de professor e palestrante, sou diretor de uma escola privada no Rio de Janeiro (RJ). Passava um pouco das 14h quando as primeiras notícias começaram a circular no WhatsApp e nos corredores escolares. Falava-se em 64 mortos na operação (hoje, quarta-feira, quando escrevo, esse número praticamente dobrou) e que as principais vias de acesso da cidade estavam bloqueadas.
O território escolar em que atuo fica em uma área nobre, onde os efeitos da tragédia humanitária e dos fechamentos não chegaram. É preciso dizer que, não apenas ontem, mas na maioria dos dias, a desigualdade social carioca e brasileira fez o seu trabalho: a bolha social da classe média e média alta seguiu quase intacta.
💬 Tire suas dúvidas e converse com outros educadores nas comunidades do Porvir no WhatsApp
Na escola, professores e funcionários comentavam, assustados, as notícias que chegavam. Havia muito boato, mas também muita verdade: a cidade — ou boa parte dela — estava parada. Os que moravam mais longe começaram a pensar em como voltar para casa ou onde dormir até que tudo se acalmasse.
Não demorou para a notícia chegar aos alunos. Ela se espalhou rapidamente: alguns choraram, outros ficaram com medo, e a maioria não sabia o que fazer nem se os pais conseguiriam buscá-los. Parte das famílias, de fato, não chegou no horário habitual. Funcionários que moravam mais perto ficaram na escola até as 19h, acolhendo os alunos.
E é importante dizer: eles não são, nem de longe, as maiores vítimas dessa tragédia.
Sete em cada dez moradores de favelas cariocas são negros e convivem com a rotina de operações policiais. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), essas mesmas pessoas percorrem trajetórias mais longas e dependem de meios de transporte menos eficientes — o que as tornou, novamente, as mais afetadas pela paralisia da cidade.
Entre os mortos, a maioria é de pessoas negras. Quando se naturaliza e até se comemora essas mortes, reafirma-se o pacto colonial e racial que funda o Brasil: a vida negra é descartável.
Não há como dissociar a violência do racismo estrutural. Quando uma operação policial se torna a mais letal da história e materializa o conceito de necropolítica, de Achille Mbembe, é preciso reconhecer que o alvo continua o mesmo: os corpos negros, pobres e periféricos.
O papel da escola
Diante desse trauma coletivo, especialmente para alunos que vivem em comunidades como o Complexo do Alemão e da Penha, a escola se torna um território de escuta, elaboração e resistência.
Longe de colocar sobre professores e gestores a responsabilidade de resolver as consequências diretas e indiretas da chacina, é preciso falar sobre o problema. O silêncio não protege: ele distorce a realidade e pode alimentar discursos autoritários que legitimam a violência e naturalizam o lugar do corpo negro e pobre na subalternidade.
Rodas de conversa, assembleias estudantis e práticas de escuta ativa são caminhos pedagógicos potentes para construir espaços de acolhimento, afeto e solidariedade. É provável que alguns alunos expressem medo, ansiedade e raiva diante dos acontecimentos — e, por isso, protocolos de acolhimento emocional e psicológico são essenciais.
Ao mesmo tempo, é preciso planejar protocolos de proteção física com antecipação de saídas, cancelamento de aulas e segurança de estudantes e educadores em dias de operação policial.
Educar para a vida
É hora de olhar para o currículo e discutir as questões humanitárias, históricas e políticas que atravessam o ocorrido e a história de violência e desigualdade que marca o nosso país: “olha quem morre, então veja você quem mata”, como diz a letra de “Negro drama” dos Racionais MC’s.
A dor e a vulnerabilidade podem gerar mais ódio, mas também podem ser o solo onde se cultiva uma cultura de paz, empatia e justiça social. É aqui que o medo vira palavra, a dor vira consciência e o trauma vira resistência.
A escola é chamada a educar para a vida num país que naturaliza a morte.
Como homem negro, de origem pobre e educador, sei o peso que carrega o corpo negro num país que ainda o associa à suspeita. Por isso, acredito que a educação antirracista é central para combater os vieses e estereótipos que desumanizam corpos negros e naturalizam a violência. Ensinar sempre foi um gesto político e significa afirmar que nossos meninos e meninas merecem viver, sonhar e aprender em paz, independentemente da cor da pele.
Nesses momentos de trauma, muitas crianças podem passar pelo processo de “tornar-se negro”, ou seja, entender que não são brancas e vivenciar a tomada de consciência do racismo e, por consequência, da luta contra ele. Dessa forma, esse processo, como nos ensina Neusa Santos Souza, é uma oportunidade de racializar a discussão a partir do resgate da história negra e de suas potencialidades e estratégias de resistências.
Para que isso aconteça com profundidade e consistência, as escolas precisam investir na formação antirracista de seus educadores: cursos, palestras e trilhas de conhecimento sobre ERER (Educação das Relações Étnico-Raciais) e Direitos Humanos devem fazer parte do horizonte institucional.
A escola sozinha não resolverá tudo, mas como nos ensina bell hooks, “o ato de ensinar é um ato de esperança e de imaginação radical”, que nossas salas de aula sigam sendo trincheiras de humanidade, e que cada lição ensinada seja um ato de desobediência à barbárie.
A imagem que ilustra este artigo mostra uma bandeira do Brasil coberta por manchas vermelhas, sugerindo sangue ou violência, e marcas de mãos, também em vermelho, espalhadas pelo fundo. O símbolo nacional — com o losango amarelo, o círculo azul e a faixa branca com o lema “Ordem e Progresso” — aparece visivelmente manchado e enrugado, transmitindo uma sensação de luto, tensão e protesto.
A cena retrata um ato simbólico de denúncia, em que a bandeira é usada como representação do país ferido pela violência.
Trata-se de um protesto contra a operação policial que deixou mais de 119 pessoas mortas no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, realizado em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo estadual.
📸 Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil

Rafael Silva
Homem negro, professor e palestrante, com graduação em História e Geografia, Mestrado em História Social da Cultura, especialista em Diversidade e Educação das Relações Étnico-Raciais. É cofundador do Pré-Vestibular Social PECEP e atua como Professor e Gerente de Equidade e Inclusão na Our Lady of Mercy School. Também é professor na PUC-Rio, nos cursos de Diversidade na Prática das Organizações e MBA em Impacto Social. Foi reconhecido internacionalmente com a 30ª posição no ranking Favikon “World's 200 Top Voices in Education”.









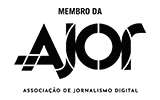
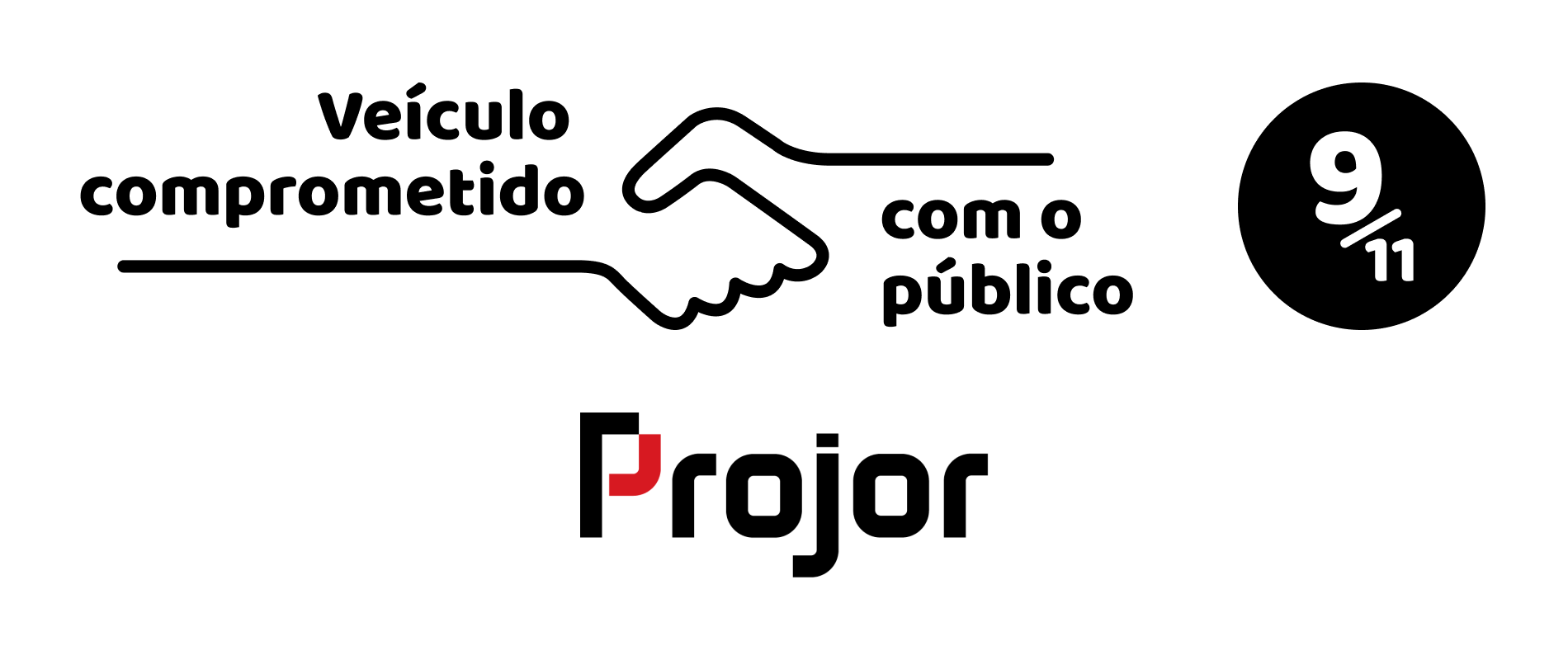
Ontem, o Brasil chorou. Chorou ao se deparar, mais uma vez, com a própria precariedade — com um sistema que deveria proteger, mas que tira vidas. Depois, buscamos culpados.
Mas quem são, de fato, os culpados?
Em meu ponto de vista, somos todos nós.
Vivemos dentro de um sistema educacional falho, que ainda não consegue oferecer oportunidades reais para que nossas crianças tenham perspectivas e não sejam atraídas pelo crime e pelo tráfico — um caminho que promete uma vida ilusória de facilidades.
Há também a sociedade, que vê a criança no semáforo vendendo balas para ajudar em casa e, ao invés de agir, prefere encontrar desculpas para aquela realidade.
Há o cidadão que consome drogas, financiando o tráfico. Se não houvesse procura, não haveria venda.
E há, por fim, quem apertou o gatilho — um gatilho que, simbolicamente, já havia sido acionado desde a infância pela falta de oportunidades, pelo abandono e pela exclusão. Esquecemos que ali estavam seres humanos, filhos, irmãos, sonhos interrompidos.
Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2024), mais de 6 mil pessoas são mortas por intervenção policial por ano no Brasil, e a maioria dessas vítimas são jovens negros, entre 15 e 29 anos, moradores das periferias.
Esses números escancaram a urgência de repensar nossas políticas públicas, nossa educação e nossa empatia.
Se procurarmos culpados, encontraremos muitos ao longo de toda essa trajetória. Isso apenas comprova o quanto precisamos transformar a estrutura e a organização da sociedade para que, no futuro, possamos enxergar uma mudança real.
É preciso oferecer oportunidades de escolha a esses jovens.
Acredito que, se muitos tivessem tido a chance, teriam se tornado jogadores de futebol, advogados, pilotos de avião, professores ou policiais.
Está na hora de mudar.
Não com discursos, mas com ações, justiça e educação de verdade.
Greici Mendonça