Diante da crise climática, diálogo entre gerações mostra por que o tema deve estar na escola
Nas periferias e em comunidades tradicionais, saberes ancestrais estimulam debates e dão origem a novos ativistas ambientais. Saiba como a escola pode se beneficiar disso
por Ana Luísa D'Maschio / Marina Lopes / Ruam Oliveira  11 de setembro de 2023
11 de setembro de 2023
Txai Suruí tem 26 anos e mora em Porto Velho (RO). Txai é um apelido de Walelasoetxeige, que significa “mulher inteligente” em Tupi Mondé. Guerreira indígena do povo Paiter Suruí, como se define, é coordenadora da Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé e do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia. Em novembro de 2021, discursou na abertura oficial da COP 26 (Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas), em Glasgow, na Escócia, para alertar que não há futuro sem que haja compromisso para manter a Amazônia em pé.
Jahzara Oná tem 19 anos e mora em São Paulo (SP). No idioma Iorubá, falado principalmente no sudoeste da África, Jahzara quer dizer “princesa santificada”. Ativista socioambiental, da quebrada para o mundo, como costuma dizer, é integrante do Fridays for Future Brasil e do Grupo Mulheres do Brasil, além de embaixadora do movimento de educação ambiental Menos 1 lixo. Durante o ensino médio, participou de greves estudantis pelo clima. Em novembro de 2022, saiu do país pela primeira vez para desembarcar em Sharm El Sheikh, no Egito, onde participou da COP 27.

As duas pertencem à nova geração de jovens que têm se esforçado para chamar a atenção do mundo para os impactos das mudanças climáticas em seus territórios. Cresceram em contextos de luta: Txai, reivindicando os direitos dos povos indígenas e a proteção das suas terras; Jahzara, em mobilizações pela garantia de direitos dos moradores das periferias. Carregam consigo saberes ancestrais, repassados de geração em geração nas suas famílias, e defendem uma educação que mostre às crianças e aos adolescentes que as pautas ambientais e sociais estão conectadas e dizem respeito a todos.
“As crianças precisam se entender como parte da natureza para que se tornem críticas, reflexivas sobre suas vidas e seu papel no mundo”, sugere Txai. “Quando eu falo de meio ambiente, também falo de mim, do meu corpo e do corpo de vocês. Falo das queimadas na Amazônia, do sumiço da Mata Atlântica. A partir das questões ambientais também surgem intersecções com diferentes pautas”, defende Jahzara. E a jovem ainda completa: “Eu queria muito que a educação climática fosse mais trabalhada dentro das escolas. Por mais que já exista um pouco de educação ambiental, falta entender o contexto da crise climática.”
As crianças precisam se entender como parte da natureza para que se tornem críticas, reflexivas sobre suas vidas e seu papel no mundo
A percepção de Jahzara coincide com os resultados de um estudo online da organização não governamental Plan Internacional, que entrevistou 1800 jovens, com idades entre 15 e 24 anos, em 37 países, incluindo o Brasil. Questionados sobre o tema, 98% deles afirmaram estar preocupados com a emergência climática, mas 81% não sabem onde encontrar informações sobre o assunto. Na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), o termo “mudanças climáticas” é citado apenas três vezes ao longo de 600 páginas.

O clima costuma aparecer no currículo das escolas de forma pontual e pouco contextualizada, geralmente com foco na mudança das temperaturas e nas suas consequências puramente ambientais. Mas poucas vezes se discute que a atual crise não atinge todos da mesma forma. As populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas e as que vivem nas periferias de centros urbanos são as mais impactadas. Daí vem o termo justiça climática, usado por movimentos socioambientais para falar do aumento da temperatura global de forma conectada com os seus efeitos sociais, éticos e até mesmo políticos.
Crise climática: Ideias para adiar o fim do mundo
Em seu pronunciamento na abertura da COP 26, Txai falou sobre os impactos da crise climática para os povos indígenas da Amazônia: “Hoje o clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo, nossas plantações não florescem como antes.” E reforçou: “Os povos indígenas estão na linha de frente da emergência climática, por isso devemos estar no centro das decisões que acontecem aqui. Nós temos ideias para adiar o fim do mundo”.
▶️ Assista ao discurso completo de Txai na COP 26
As ideias mencionadas pela jovem partem dos saberes ancestrais de um povo que “vive há pelo menos 6 mil anos na floresta amazônica”, como destacou em seu discurso. “Ao falar de ancestralidade e justiça climática, falamos dos saberes que vêm da floresta, dos povos originários, e isso é muito forte. É uma forma de ver e entender o mundo, de se entender como território. Se a gente não entende onde está, como vai entender ou transformar o próprio território, a própria vida?”, diz em entrevista ao Porvir.
| O que são saberes ancestrais? |
|---|
| Há muitos séculos, os povos indígenas e africanos reúnem e transmitem, de geração em geração, conhecimentos valiosos sobre diferentes aspectos da vida e de diversas áreas como saúde, cultura, língua, espiritualidade, práticas sociais entre outros. Esse conhecimento é transmitido por meio da oralidade e da memória, sendo socializado em espaços dentro dos seus territórios. Esses saberes ancestrais resistem ao tempo e reforçam a tradição, a história e a visão de presente e futuro desses povos. “Se há futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui”, disse Ailton Krenak em seu livro “Futuro Ancestral”, que inspirou essa reportagem a ter um olhar voltado para a conexão entre os saberes ancestrais e as mobilizações das juventudes. |
“Os Suruí transmitem ensinamentos a respeito do cuidado com o meio ambiente e com a floresta por meio da oralidade. A transmissão da cultura é uma obrigação dos pais; é assim que se forma a identidade indígena”, conta a mãe de Txai, Neidinha Bandeira, ambientalista e fundadora da Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé. “Txai acompanhou de perto a importância de tratar os territórios indígenas com respeito e aprendeu o valor da floresta em pé, instrumento que traz equilíbrio para o futuro. Sem floresta, não há nossa cultura viva”, complementa o pai, Almir Suruí, líder indígena que já foi reconhecido pelas Nações Unidas como Herói da Floresta pelo trabalho de proteção à Terra Indígena Sete de Setembro.
Os conhecimentos dos povos indígenas precisam ir para os currículos. Os professores deveriam tentar se aproximar disso
Quando o assunto é educação, eles concordam com Txai sobre a necessidade de sensibilizar as crianças para se entenderem como parte da natureza e desenvolverem um pensamento crítico sobre o assunto. “As escolas devem discutir o tema do meio ambiente com os seus estudantes. Isso ajuda a formar cidadãos comprometidos com a natureza”, afirma Neidinha. “Os conhecimentos dos povos indígenas precisam ir para os currículos. Os professores deveriam tentar se aproximar disso. É preciso mobilizar a opinião pública. É um conhecimento presente nas aldeias e organizações indígenas, mas que não está organizado para que as escolas o acessem”, reforça Almir.
O exemplo que vem das escolas indígenas
As raízes dos problemas que aprofundam a crise climática estão na forma como as sociedades vivem e se organizam. Para a professora Kerexu Mirim, que nasceu e cresceu na Aldeia Krukutu, localizada no distrito de Parelheiros, às margens da represa Billings, um dos maiores reservatórios de água da Região Metropolitana de São Paulo, o excesso de incentivo à competitividade e ao individualismo ao longo da vida escolar são fatores que contribuem para uma vida que não está de acordo com a natureza.
Kerexu trabalha na Escola Estadual Indígena Krukutu, que desenvolve práticas pedagógicas intrinsecamente entrelaçadas à cultura Guarani, caracterizadas por uma abordagem holística do meio ambiente, que se destacam pelo respeito aos mais velhos e o estímulo à convivência comunitária. “Temos que trabalhar muito bem na base, nos primeiros anos de vida da criança, e ensinar como é cuidar da terra, preservar e falar o porquê estamos preservando.”










Antes mesmo de cientistas em diferentes países declararem emergência climática, Tranquilino Karay Martines, representante da liderança da Krukutu, lembra que seus avós e bisavós já alertavam sobre as consequências da atuação do homem sobre o meio ambiente. “Os nossos saberes vêm lá de trás”, reforça. “Os alunos ouvem muito dos mais velhos sobre como trabalhar e como fortalecer a cultura”, complementa Edna Maria Siqueira Machado, diretora da escola e mulher não indígena.
Na aldeia Tenondé Porã, que fica próxima à Krukutu, a Escola Estadual Guarani Gwyra Pepo também dedica esforços para a transmissão de conhecimentos entre as gerações, com foco na preservação tanto de costumes quanto da floresta.
“Os nossos xeramõi [anciãos] ensinam que a árvore é um ser e que os animais têm o seu dono. Então, até para caçar a gente tem que aprender a respeitar os tempos. Se a gente caçar todo dia, vai matar um animal todo dia, e o que vai restar daqui a 10 anos?”, conta Uera Popygua, diretor da escola na qual trabalham professores indígenas e não indígenas. Por lá, conteúdos de saberes tradicionais são mesclados com outros componentes da BNCC, como português e matemática.






Questionado sobre saberes indígenas que também poderiam ser compartilhados com estudantes em outros contextos educativos, Uera considera difícil dar sugestões sobre o que as escolas não indígenas “têm que fazer”, mas ele avalia que há possibilidade de um trabalho conjunto, benéfico para todos. “Tem que ser a partir de projetos de conexão, fazer um intercâmbio para eles conhecerem a cultura indígena”, diz. Afinal, o diretor destaca que o debate sobre a crise climática deve envolver toda a sociedade.
A crise climática deve ser uma preocupação de todos
A discussão sobre como as mudanças climáticas geram impactos desiguais também parte de um reconhecimento da própria realidade do estudante. “Será que todo mundo deveria ter medo da chuva? Por que algumas pessoas perdem tudo quando chove?”, questiona Jahzara. Como moradora da periferia, no Jardim Pantanal, bairro da cidade de São Paulo que cresceu junto à várzea do Rio Tietê, ela sabe bem o que é lidar com os impactos desiguais dessa crise.
Em períodos de chuva forte, ela e a família já enfrentaram muitas enchentes que dificultavam, inclusive, o acesso à escola. “Morávamos em uma ponta da comunidade e a escola era do outro lado. Toda vez que chovia muito, a água ficava na minha cintura e na altura do pescoço da minha irmãzinha. Eu a levava nas costas”, relembra a jovem, que é técnica em meio ambiente e estudante de geociências na USP (Universidade de São Paulo).
Aos 15 anos, durante uma das piores enchentes que atingiu o bairro, Jahzara assumiu pela primeira vez o papel de mobilizadora social. E não parou mais. “Consegui cestas básicas para 266 famílias que tinham perdido tudo por causa das chuvas. Isso me tocou bastante. Foi quando pensei: ‘Eu realmente poderia fazer algo para mudar a realidade da minha comunidade’. Passei a frequentar cada vez mais espaços políticos”, comenta. “Quando comecei a pensar que eu era ativista, entendi que minha mãe e minha avó também eram. Se a gente já nasce em um contexto de luta, percebe que lutar pela própria vida já é ativismo”, reflete ela, que se prepara para participar da COP 28, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Quando comecei a pensar que eu era ativista, entendi que minha mãe e minha avó também eram. Se a gente já nasce em um contexto de luta, percebe que lutar pela própria vida já é ativismo
Para Jahzara, a justiça climática não é apenas ambiental, é também social. “É a justiça das comunidades periféricas e das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e ribeirinhas. Não existe justiça climática enquanto não tivermos as outras justiças.” A fala dela também se traduz no conceito de racismo ambiental, uma terminologia que se refere à desigualdade socioambiental que atinge as populações étnico-raciais mais vulnerabilizadas.
“Ao longo dos anos, falava-se em mudanças climáticas, e não sobre racismo ambiental. Era uma preservação ambiental sem povo, sem rosto, sem raízes. Agora, fala-se em racismo ambiental, mas sempre foi racismo. Só deram novas nomenclaturas às coisas”, define Kátia Penha, ativista ambiental quilombola e coordenadora da Conaq (Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos).
Filha de agricultores, Kátia mora no quilombo Divino Espírito Santo, em São Mateus (ES). Nasceu e cresceu em território quilombola, e acredita que a educação continua muito longe do jeito quilombola de viver e de cuidar. “Quando derrubamos uma árvore, plantamos outra. Ao fazer um poço para construir uma cacimba, sabemos até onde perfurar. São ensinamentos que passamos para os nossos que estão chegando.” E complementa: “Só teremos, no futuro, cidadãos que olhem para o meio ambiente, se a gente tiver uma educação de base.”
O papel da educação crítica e cidadã para cuidar do planeta
No Cieja (Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos) Perus I, localizado no bairro de Perus, a cerca de 30 km do centro da cidade de São Paulo, a educação ambiental reflete a realidade dos estudantes. Por lá, durante décadas, os moradores lutaram para conseguir o fechamento do Aterro Bandeirantes, que ocupava uma área de 1,4 milhão de metros quadrados e está inativo desde 2007.










Entre as experiências pessoais e as notícias vistas no telejornal, como as denúncias sobre a situação dos povos Yanomami ocasionada pelo garimpo ilegal, os estudantes decidiram se aprofundar nas discussões sobre sustentabilidade durante o primeiro semestre de 2023. “Nós trabalhamos por uma perspectiva freiriana da educação, então elencamos os temas geradores, e a sustentabilidade se sobressaiu”, explica Franciele Busico, diretora do colégio. A temática apareceu também de forma transversal em conteúdos de matemática, língua portuguesa, alfabetização e outros componentes curriculares.
Além de discutir sobre o tema na escola, o aluno Marcos Roberto Fernandes Ferreira encontra em casa outra oportunidade de debate com sua filha mais velha Ana Vitória Silva Ferreira, de 23 anos, estudante do terceiro ano de ciências biológicas na Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). Desde os 14 anos, ela está envolvida com organizações de defesa do clima.
Muito orgulhoso da filha, Marcos lembra com alegria que em agosto de 2023, Vitória participou da Escola Mundial de Quadros em Leuven, na Bélgica, onde abordou temas de justiça climática e proteção ambiental. E este não foi o único país que Vitória visitou para tratar do assunto. “E o orgulho que eu senti quando ela foi pra Inglaterra pela primeira vez? Ela foi liderando aquele monte de pessoas, com gringo falando as outras línguas. Eu pensei: ‘Meu Deus, a minha filha saiu daqui da Brasilândia, e agora ela está lá, falando em outro país’!”

Ana também demonstra se sentir orgulhosa do pai por ter voltado à escola para concluir o ensino fundamental. Ao refletir sobre a crise atual, ela reconhece que mudanças climáticas sempre foram uma questão para quem vive nas periferias. “A vida na periferia não é fácil, né? Lutamos para que esse espaço possa ser melhor, que as pessoas possam ter direitos, moradias dignas, água encanada, alimentação, acesso à cultura, lazer, saúde, qualidade de ar e qualidade de vida”, diz a jovem.
Os impactos das mudanças climáticas sentidos por moradores de periferias e regiões mais vulnerabilizadas são maiores, por isso a importância da justiça climática enquanto pauta nos ambientes escolares. Dados do segundo volume do Sexto Relatório de Avaliação do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas (ONU), indicam que moradores de regiões consideradas vulneráveis morreram 15 vezes mais por secas, enchentes e tempestades do que aqueles que vivem em áreas seguras.
Violação de direitos das crianças
As pesquisas também mostram que a crise no clima é uma crise de direitos para as crianças, sobretudo aquelas que vivem nas periferias de centros urbanos e em comunidades tradicionais. De acordo com o relatório de Índice de Risco Climático das Crianças (IRCC), realizado pelo Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), mais de um terço das crianças no mundo estão expostas a ondas de calor, escassez de água e contaminação de chumbo no ar, água, solo e alimentos.
São as crianças que terão que lidar por mais tempo com os efeitos da crise climática e frequentemente demonstram preocupações com o futuro do planeta. É o caso da estudante Vitória Santana, de 9 anos: “Quando eu vejo lixo na rua, eu penso que isso vai poluir o mundo. A gente vai ficar sem mundo, com bastante doença. E quando a gente for pra praia, ela também vai ser poluída.”
Moradora do distrito do Itaim Paulista, no extremo leste da cidade de São Paulo, desde cedo ela já tem consciência de que o lugar de lixo é no lixo e que todos precisam cuidar do planeta. “Em casa, quando vê qualquer coisa fora do lugar, ela já avisa ‘mãe, isso aqui é lixo’. Com crianças assim, eu acredito que futuramente o meio ambiente vai ser melhor”, relata a mãe Tatiane Santana, que tem outras duas filhas de 3 e 12 anos.

Nas proximidades de onde moram, em períodos de chuvas fortes, vizinhos sofrem de forma direta com o impacto das enchentes. “Os bueiros aqui estão entupidos por causa do lixo. Às vezes as crianças pensam que o alagamento acontece por causa da chuva, mas na verdade é o acúmulo de lixo que causa isso”, conta Tatiane.
Na tentativa de conscientizar a comunidade local sobre os riscos do descarte incorreto de lixo, elas são participantes assíduas do projeto “Cuidando do mundo da gente”, que está em andamento desde 2017 no Centro de Educação Infantil (CEI) Indireto Cantinho da Tia Isaura. Vitória já foi aluna da escola e atualmente sua irmã mais nova, Maria Helena Santana, de 3 anos, também está matriculada.
Uma vez por semana, às quintas-feiras, crianças de 3 e 4 anos saem pelas ruas do bairro, acompanhadas por professores e familiares, para recolher o lixo descartado incorretamente. Com coletes de identificação laranja e luvas, cantarolando que o lugar de lixo é no lixo, elas chamam a atenção dos vizinhos por onde passam. “Não pode jogar na rua, tem que jogar no lixo”, reforça Maria Helena, que segue acompanhada da mãe e da irmã.












“As crianças chamam muita atenção porque são pequenininhas, todo mundo acha lindo essa ação. Mas eu sempre falo que mais bonito do que ver uma criança de três anos pegando o lixo, é nós, adultos, termos a consciência de que não é certo jogar o lixo no chão”, afirma a diretora do CEI, Érika Mayume.
Juntamente com outras iniciativas da escola, que incluem o cultivo de hortas, incentivo à alimentação saudável, reutilização de materiais e eliminação do uso do EVA (um tipo de plástico), que leva cerca de 400 anos para se decompor, a intenção é conscientizar os pequenos por meio do exemplo sobre a importância de cuidar do planeta. “Nós não podemos deixar com que as nossas crianças naturalizem o lixo nas ruas. Se eles pisam no lixo todos os dias, eles vão entender que está tudo bem pisar no lixo todos os dias. Tudo bem ver lixo na rua, é normal.”
Nós não podemos deixar com que as nossas crianças naturalizem o lixo nas ruas. Se eles pisam no lixo todos os dias, eles vão entender que está tudo bem pisar no lixo todos os dias
Tanto as famílias quanto os educadores avaliam positivamente o projeto “Cuidando do Mundo da Gente”. “As crianças crescem com a consciência de que podemos transformar o mundo em um lugar melhor”, garante a professora Renata Barros. “Isso é uma questão de cidadania e de cuidado, e o mundo agradece muito”, completa o educador Wesley Santos Camargo.
No diálogo entre diferentes gerações, as duas jovens ativistas, Txai e Jahzara, reconhecem o papel importante das crianças na luta pelo clima e pelas florestas. “Eu acredito muito nas crianças, acho que delas vem a esperança e a possibilidade de mudar”, diz Txai. Jahzara também considera que as novas gerações precisam ser cada vez mais incluídas nesse debate: “Assim como eu sou impactada, a geração da minha irmãzinha [de 9 anos] vai ser ainda mais. Ao mesmo tempo, a luta da juventude vai crescer para que a gente consiga se adaptar e lidar com a crise climática.
Futuro ancestral na escola
Quer levar essas discussões para a sua sala de aula? Para apoiar o trabalho de educadores em diferentes contextos, o Porvir produziu o e-book “Futuro Ancestral na escola: reflexões e dicas para trabalhar justiça climática e racismo ambiental com turmas da educação infantil ao ensino médio“. Neste material, além de orientações práticas, você encontra conceitos essenciais, recomendações de leitura, artigos e vídeos para aprofundamento.
Conteúdo do e-book: Ana Luísa D’Maschio Marina Lopes Ruam Oliveira
Projeto gráfico e editoração eletrônica: Regiany Silva e Ronaldo Abreu
* Esta reportagem foi contemplada pelo edital Bolsas de Reportagem Justiça Climática – AJOR e iCS: Justiça Climática e o Enfrentamento ao Racismo Ambiental no Brasil”, promovido pela Ajor, Associação de Jornalismo Digital e o iCS, Instituto Clima e Sociedade, no âmbito do The Climate Justice Pilot Project.









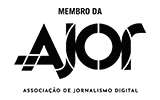
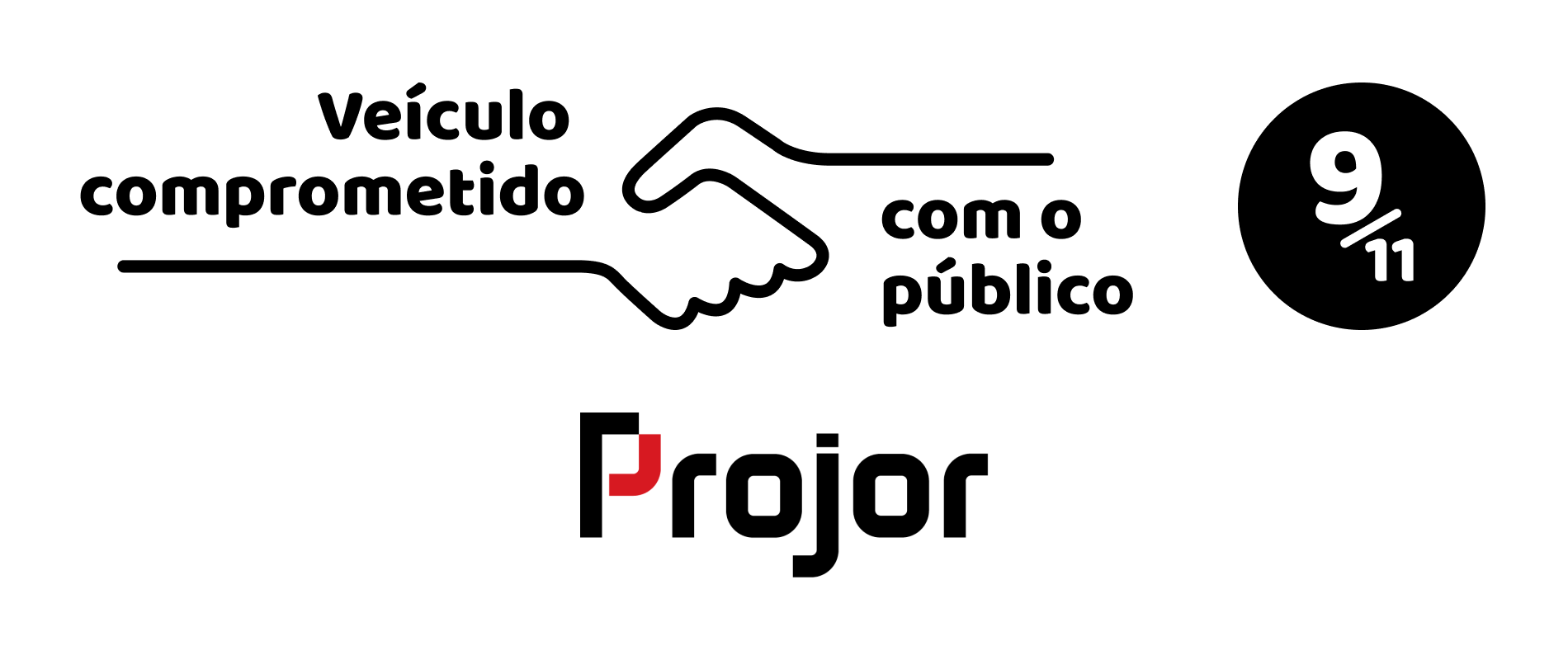
Que matéria INCRÍVEL!!!
Eu amei aprender com tanta gente empenhada e com amor ao nosso Planeta!
Parabéns Porvir pela matéria e parabéns também AJOR e iCS por apoiar esta causa! Sucesso é simplesmente consequência de corações bons como o de vocês!!!
Parabenizo pelo excelente trabalho. Amei e gostaria de mobilizar meus estudantes para uma trabalho de coleta de resíduos sólidos nas ruas da comunidade.
As temáticas abordadas trazem reflexões interessantes e necessárias, porque estamos diante de crise climática. É imprescindível conscientizar as nossas crianças que elas podem mudar o mundo através de uma educação crítica, cidadã para proteção do planeta.
As crianças precisam pensar acerca do futuro que querem ter..As metodologias ativas devem possibilitar a formação de cidadãos ativos , críticos e transformadores.